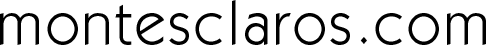Haroldo Tourinho Filho
haroldotourinhofilho@yahoo.com.br
83531
| Por Haroldo Tourinho Filho - 12/9/2018 09:09:09 |
| Alegria de um lado, tristeza de outro: é a vida. Acabo de receber a notícia do encantamento de uma grande amiga: Cecília Conde, sobrinha do maestro Lorenzo Fernandez, hoje, no Rio, aos 86 anos. Estava internada desde 19 de agosto. O velório deverá ser na sala Cecília Meireles, colocada à disposição da família pelo seu atual diretor, o educador, maestro, pianista e concertista internacional, Miguel Proença, que tive o prazer de ouvir em Moc City, trazido pelo nosso conservatório. Cecília Conde, para resumir, foi musicóloga, dramaturga, brilhante palestrante y otras cositas más. Tem em seu currículo um prêmio Molière, o maior do teatro brasileiro, e a criação de dois primeiros cursos no Brasil: graduação em Musicoterapia e o de pós-graduação em Educação Musical. Para mim, basta. Cecília Conde amava Moc City, foi ardente amante do nosso folclore. Cecília viveu e encantou! |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 16/12/2016 15:11:21 |
| Breve mensagem de Natal e Ano Novo Alguns pensadores observam que a passagem de um século para outro não se dá necessariamente apenas no tempo cronológico. Para não irmos muito longe ao passado, o século XX, segundo eles, não teria se iniciado em 1900, e, sim, com o início da Primeira Guerra. Porque, até então, tudo continuava mais ou menos como dantes ou quase nada havia mudado substancialmente desde a década de 1870. Não houvera guerras significativas, o custo de vida pouco se alterara, a miséria diminuía gradativamente, os costumes não apresentavam conturbações dignas de registro; enfim, vivia-se em paz. A cada dia novas invenções e descobertas científicas davam aos humanos certa sensação de onipotência – a Natureza domada aos poucos. As letras e as artes iam a pleno vapor. Habitantes de grandes centros cosmopolitas deliciavam-se com a música e danças nos salões, parques e passeios públicos, cafés e restaurantes transbordavam de alegria, jornaleiros num frenético vaivém berravam as últimas do dia: – Extra! Extra! Assassinado o arquiduque Francisco Ferdinando! Foi a gota d’água. A partilha imperialista da Ásia e África, concorrência econômica, nacionalismos, corrida armamentista etc., etc., provocaram a Primeira Guerra Mundial. Vivia-se até aí a chamada Belle Époque. Com o advento do conflito, em 1914, o mundo e o século mudaram. Acabaram-se a beleza e o que era doce. A flor da juventude europeia feneceria nos campos de batalha. Só então, apregoam certos pensadores, alvoreceu o século XX, centúria esta marcada por guerras, revoluções, golpes de estado e mortandades. Nunca se matou tanta gente na história da humanidade. Também foi um século de transformações em todos os sentidos, das conquistas espaciais à liberdade sexual, esta no Ocidente dito desenvolvido. Esse século XX também não se encerraria em 2000, como pareceu ao senso comum. A virada pode estar ocorrendo no tempo corrente. E o que será deste nosso querido e esperado século XXI? Somos otimistas por temperamento. Respiramos positividade pelos poros. Mas ainda não conseguimos vislumbrar um horizonte azul. Pelo contrário, o que estamos vendo é o recrudescimento do nacionalismo xenófobo, da intolerância, do racismo, do individualismo exarcebado. Vivemos sob a espada do terrorismo e da violência generalizada. A navegar em céu de brigadeiro, talvez somente os internautas de boa índole. Acreditamos que, se um maior aprofundamento do conhecimento da linguagem e do procedimento dos algorítmos – no sentido de estabelecermos a inteligência artificial – vier a se configurar ainda no século XXI, aí poderemos afirmar que adentramos o seguinte. A questão é se chegaremos ao século XXII, cronologicamente ou não. Refiro-me à nossa descendência. Os viventes de hoje já estarão na Eternidade. A condição óbvia, sine qua non, para que tal aconteça, é proporcionarmos a ela as condições necessárias para que chegue lá. Tarefa nossa, indeclinável. Que cada um de nós faça a sua parte e torçamos todos para que nenhum doidivanas aperte o botão nuclear e que outros ainda mais sensatos contenham o aquecimento global, através de medidas já preconizadas pela comunidade científica. Acreditamos que ainda há esperança, um belo porvir para os humanos. A ela me apego. Protestemos, critiquemos, salvemo-nos com o planeta Terra! Sejamos nós e não nos esqueçamos de nossos semelhantes. Não vamos nos acovardar. Vamos cumprir o nosso destino. Sejamos compreensivos, amáveis, tolerantes e solidários. Vamos amar e ser amados. O resultado só poderá ser positivo, o mundo voltará a sorrir e nossa descendência nos agradecerá penhoradamente. Então a humanidade cantará e dançará e voltará a amar em paz, enquanto o sonho, que é a vida, durar. Viva o Menino Jesus! |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 23/5/2016 16:31:06 |
| A LEI ROUANET O ministério da Educação e Cultura sempre disponibilizou recursos para projetos culturais. Cinema era com a Embrafilme, um dos braços do MEC, amputado pelo governo Collor. Verdade que ali havia abusos etc. Não cabe aqui entrar no mérito da questão. Mas outra verdade, e esta incontestável, é que sem apoio oficial a produção cinematográfica, dispendiosa como é, se inviabiliza. Países como França, Inglaterra, Alemanha, Itália e escandinavos, Japão e Irã, Argentina e Brasil até a extinção da Embrafilme historicamente deram suporte à atividade. Do mundo dito comunista não é preciso falar. Encouraçado Potekim o diz. Enfim, onde inexiste algum tipo de apoio governamental não há cinema. Na Europa, abundam produções cinematográficas envolvendo mais de um país. De onde vêm incentivos para essas co-produções? James Bond que o diga. Nos EUA é diferente. Ali, a indústria do cinema é dominada pelo capital judeu. Goldwins e Myers, Warners e Foxes etc. Uma pequena máfia ou cartel, como desejarem. Houve o histórico caso de não submissão a esse esquema quando, revoltados com a exploração, grupo de artistas e amigos fundaram sua própria companhia, a United Artists. Mas mesmo nos EUA, quando de interesse da propaganda imperialista, milhares de filmes foram e são bancados total ou parcialmente pelo governo. Não são poucos os westerns a procurar mascarar o sistemático massacre de nações indígenas e não foram e não são poucos os filmes a enaltecer as qualidades guerreiras daquele povo. Assim, como vimos, sem algum tipo de apoio governamental a arte cinematográfica não decola. Com o fim da Embrafilme o cinema brasileiro acabou. Veio então a Lei de Incentivo à Cultura, também conhecida como Lei Rouanet (Lei nº 8.313 de 23 de dezembro de 1991) sancionada pelo presidente Collor de Mello. Veio para ficar e tem procurado solucionar o problema de captação de recursos para as artes em geral. Assim como O Capital, a Lei Rouanet é criticada pelos que não a leram ou não compreenderam o seu espírito. Essa ignorância leva ao absurdo o alcance de sua aplicação. Que é de uma simplicidade genial. Se você tem uma idéia e não dispõe de recursos financeiros para viabilizá-la, elabore o seu projeto. Faça-o como deve ser feito ou o mesmo poderá ser recusado. Objetivo, cronograma, custos, tudo deverá constar ali. Em seguida, submeta esse projeto à apreciação do ministério da Cultura. Se o projeto for aprovado, o produtor cultural estará autorizado a captar junto às empresas ou aos cidadãos a verba para o projeto. Quem der dinheiro poderá descontar uma parte dessa doação do montante que irá pagar do imposto de renda, até um limite estabelecido. Ou seja, não é todo o valor investido em cultura que será descontado do imposto de renda do patrocinador do projeto. Há, portanto, dois filtros para o projeto obter o dinheiro: a aprovação do Governo e a aceitação do doador, agente privado. A Lei de Incentivo à Cultura é em suma isso. Os que apregoam o contrário o fazem por ignorância ou má fé. Para ilustrar o que dissemos em parágrafo retro, vamos às últimas produções do brilhante cineasta Woody Allen. O judeuzinho é esperto. Vem concebendo películas cujas locações se dão em cenários deslumbrantes. Roma e Paris já foram contempladas. O projeto Rio creio que ainda não saiu do papel. Quem banca esses filmes, total ou parcialmente? Ora, elementar meu caro Watson, as prefeituras dessas cidades. Retorno turístico garantido. Focamos neste artigo basicamente a arte cinematográfica. No entanto, deve ter ficado claro que a Lei Rouanet aí está para dar o devido suporte às manifestações artísticas em geral. |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 24/2/2016 17:15:56 |
| Afff! Ontem, terça-feira, depois de passar no escritório do Leo e Hélio Ogando e ter pedido ao Matheus pra desligar o pc que usara, me despedi do Thadeu e esperei pelo Sam, amigo vizinho necessitando de atestado médico para seu caso de zica ou dengue. Providenciei. Em seguida encontrei Dalton Melo. - Cabs, Cabs, há quanto tempo? Vamos tomar uma. Ele já estava tomando. Declinei do convite. Relembrei a ele que eu e JK só bebíamos ao por do sol. Questão de higiene. Lamentou. Abraços. Como vai dona Olívia? Nos despedimos tristemente. Chequei o Pateck Philippe. 18:15. Fui em Junim. Bom papo, pão de queijo, cafezim. - Fica mais, tá cedo. Resolvi partir. Realmente estava muito cedo. No caminho para casa decidi passar pela Matriz. Tenho amigos lá. Amigos de fé. Batata! Lieta e Mercau se achavam no banco de sempre. Cumprimentei os jovens senadores e logo saímos para comemorar a minha longa ausência. Cerveja, pinga, espetim e guaraná pra mim, eis que o celular de Lieta toca. Petrônio Braz nos convocando a outro bar ali perto. Bar da Ana, antigo Joaquim. Estritamente familiar. Recomendo. Bem, em lá chegando, o professor Petrônio me inquiriu sobre a última resolução do Supremo. Prisão após condenação em segunda instância. Dose. Ele contra. Não me manifestei. Papo curto. Petrobraz estava matando reunião do seu querido Rotary. Ah, estivera lá, foi fotografado e publicado no FB, mas, como bom menino que é, fugiu para os amigos. Tomou uma e voltou ao seio da seita. KKK. Com a deserção de Petrônio a turma se dispersou. Lieta foi ver novela, Mercau tomou o rumo de casa e eu peguei a reta para a minha. Subi a Santa Maria. No Skema Kent parei. Entrei. Revirei os jornais do dia. Nada interesante. Tomei um cafezinho. Não acessei o wi-fi, como de costume. Acendi um cigarro e ia saindo quando ouvi, ou me pareceu ter ouvido: - Cabaret! Olhei em volta. Não identifiquei de onde viera o chamado. Segui em frente. - Cabaret! Não sei quem foi e talvez nunca venha realmente a saber. Mas me dirigi até a mesa do desconhecido. Isso acontece. Li, certa vez, não sei onde, uma definição simples de celebridade. Muito simples. Você se torna uma celebridade quando é conhecido por mais pessoas do que você conhece. Complicado? Nada. Eu conheço cem pessoas. Mil me conhecem. Sou celebridade. Cumprimentei o rapaz que estava de pé e quase me abraçou. Na mesa, uma moreninha tímida e graciosa ao extremo. Namorada dele. Pensei em apenas cumprimentar o jovem casal, mas ele me intimou a sentar. Cheguei a ensaiar uma retirada clássica do velho estoque, mas o velho Johnnie Walker olhou pra mim e me aquietou. - Cabaret, disse o jovem, há quanto tempo? - Eh, respondi mecanicamente. - Garçom! chamou ele. Garçom. Palavra mágica. Veio o Edmundo com copos e gelo. - Cabaret, cara, cadê Buts? Buts é meu querido irmão Henrique. Me senti mais à vontade. Pelo menos o cara nos conhecia. Fui tomado por um sentimento de ternura pela mocinha. Lindinha. Mas eu não pensava em nada que os leitores talvez estejam pensando. O rapaz foi ao banheiro. Perguntei a ela: - Você é daqui? - Sou e não sou. - Como assim? - Nasci aqui. Mas fui criada em Brasilinha. Meu pai é de lá. Mas estou de volta. Moro com meus avós no São José. Faço Direito na Unimontes. O namorado voltou. Saíra meio afogueado. Voltava de rosto lavado. Dera uma sacudidela no semblante. Mal chegou, chamou Edmundo. Pediram filé à parmegiana. Eu não quis comer. Uísque, sim, dois dedos mais. O retorno do rapaz azedou o encontro. - Cabaret, disse ele, confesso que não curto rock. Sou chegado ao funk e ao sertanejo universitário. - Oh, uma pena, lamentei. Cada qual tem o seu gosto, mas não curto essa onda aí. - Cabaret, outro dia me enviaram uns vídeos. Você tocando com uns meninos. - Kkk, sim, os Bad Boys. - Mas, Cabaret, você deve ter uns sessenta, neh? - Um pouco menos, por quê? - Nada não, mas você não acha que está meio velho pra tá tocando com aqueles moleques? Pergunta normal. Aceitável. Mas não sei por que cargas d`água respondi: - Meu querido, você disse há pouco que ama cavalo, beija cavalo etc e tal. Eu amo gente. E gente que gosta de rock, preferencialmente. Passar bem. Peguei o copo e saí. - Cabaret! Cabaret! Não olhei para trás. Nota: Dedico esta crônica ao amigo Kakau Guedes, falecido na madrugada desta terça-feira, 24 de fevereiro de 2016. Coincidentemente, o dia do falecimento de meu pai, em 1982. |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 26/11/2015 16:38:30 |
| Coisas de palco... Na década de 1960 não havia a chamada caixa de retorno (foldback) voltada para o palco. Músicos tarimbados muitas vezes se perdiam. Era preciso fazer uma ligeiríssima suspensão no andamento da canção para, num átimo, perceber sua posição, não cair n`água - sair do ritmo - e retomar o embalo. Esse tempo felizmente passou, mas roqueiros, metaleiros e outros demônios ainda se defrontam com o problema, a depender do equipamento, recursos de palco etc. e tal. A idéia de tecer estes comentários me veio ao ler "Vida", biografia oficial do Keith Richards, lead guitar dos Stones. Ele comenta o problema acima exposto e reafirma seu sonho de voltar a tocar em locais fechados, com assistência reduzida. Por esse e outros motivos, cansado da tecnologia da época, Lennon propôs aos companheiros o encerramento das turnês dos Beatles em estádios, ou arenas, como preferirem. Desabafou John: "Vamos parar com essa merda! Ninguém ouve o que tocamos, nem mesmo nós, e eu não aguento mais essa zorra - referia-se aos fãs, que não iam aos espetáculos a não ser para gritar, se envolver com os de sua idade, admirar de longe seus ídolos, enfim, se afirmar, amar, extravasar, se rebelar. Voltando a Richards, diz ele que, quando o megalomaníaco Mick - no dizer dele - inventou palcos gigantescos, ele, Keith, e Watts, batera da banda, foram contra. Enfim, grana em jogo, e quanto mais público mais grana, o tal palco foi encomendado: mais de 50m de boca e não sei quantos de fundo. Nos bastidores da época, sabemos, Banquete dos Mendigos... Só não rolava a "brown sugar", porcaria se comparada a dos laboratórios Merck. A primeira turnê stoniana com palco gigante estreou nos EUA*, aquela da Honky Tonky Women, remember? Em qual cidade não lembro, consultem o Google. Confusão geral. O público ululante nada percebeu, mas os engenheiros de som ficaram loucos e os componentes da banda, desnorteados, "caíram n`água" em algumas passagens. A razão de todo esse desencontro? Ah, quando o lead vocal, Jagger, se afasta dos demais da banda, sua voz leva milésimos de segundos para, propagada pelo sistema de som do estádio, ser captada na volta pelos companheiros. Sabemos algo a respeito da velocidade do som, neh? Pois é, pânico na estreia da turnê. Para o staff promotor do evento, foi como se uma viagem tripulada à Lua tivesse malogrado. Ainda não há solução ideal para tal problema técnico, o da propagação do som em certos espaços/ambientes. Segundo Keith Richards, devido ao fato de The Rolling Stones estarem há cinco décadas na estrada, desenvolveram um "esquema" para driblar tamanha dificuldade. Funciona mais ou menos assim: Quando o Mick se distancia muito, todos os seus rebolados, gestos e trejeitos são acompanhados pelo baterista e gerente de palco, Charles Watts. Eles criaram um código. Então, quando o Mick levanta um braço, mexe com a bunda ou algo assim, o batera pega a deixa e corrige imediatamente o ritmo, se necessário. Os outros seguem-no, incontinenti. Ele, de olho no Mick, os outros de olho nele. "Há sempre um atraso, imperceptível, porém, imperdoável. O que fazer?" pergunta-se Richards. * De alguns anos para cá, notaram? as estreias de turnês mundiais de certas rockbands têm acontecido no Brasil, Argentina, Austrália, Japão... Por que não em Nova Iorque, Londres, Los Angeles, Paris? Ah, porque os seus produtores acham que, fora do circuito tradicional, tudo não passará de treino, laboratório, de um grande ensaio, com qualidade, certamente, e ninguém perceberá nada se a banda vier a "cair n`água" ou outro problema ocorrer. Que tolos, hein? Ou somos nosotros otários? |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 11/6/2015 16:19:30 |
| Dona Carlota, Eu e a Eternidade... (Segunda Parte) Dona Carlota não perdeu tempo. Pragmática, tão logo nos deixou resolveu em Salvador o seu futuro. Pelo que sei, via transmissão familiar, ela realizou os bens que lá possuía, repartiu o resultado com os netos até então solteiros, meus tios Carlito, Detinha, Therezinha e Rubinho - mamãe e José abriram mão de suas partes - e resguardou para si os rendimentos semestrais de uma fazendinha de cacau em Belmonte, Bahia, herdada da tia e madrinha Virgínia. Só então voltou a Montes Claros, onde cumpriria o restante dos seus dias. Dessa segunda vez veio de mala-e-cuia. Fomos em carro de praça e caminhonete recebê-la no campo de aviação. Roberto e eu aboletados na carroceria do utilitário, comendo poeira como se dizia. A chamada boleia ia vazia, mas voltaria cheia de pertences da avó que chegava. Da primeira vez que esteve conosco, dona Carlota detestou o colchão de molas e travesseiros de espuma nos quais dormia. Mas nada disse. Assim, seus travesseiros e colchão de plumas vieram na aeronave, o colchão enrolado, bem como sua cama, esta desmontada. Daí a necessidade da caminhonete para o transporte de tais comodidades. Malas com roupas foram acomodadas no táxi e algumas caixas completaram a carga da caminhonete. Já em casa, lembro-me de duas dessas caixas sendo abertas. Uma trazia imagens e quadrinhos de santos, castiçais e redomas de vidro; a outra, livros religiosos e romances edificantes, como O Conde de Monte Cristo, que oportunamente ela leria para nós meninos. Na nossa casa recém inaugurada, dona Carlota ocupou o cômodo previsto para ser biblioteca e local de estudo. Este não contava com armário embutido. Um guarda-roupa foi comprado e outros móveis compunham o aposento, dentre eles uma cômoda paramentada com rica toalha de linho que ela trouxera e onde acomodou as divindades: crucifixo grande ao centro, ladeado por nossas senhoras em redomas de vidro, São José, Santo Antônio, três imagens de deus menino, outras deidades e dois castiçais em que sempre ardia pelo menos uma vela. O "altar de vovó", batizamos o arranjo. Uma caixa de tamanho médio, colocada sobre o guarda-roupa, chamado por ela de guarda-vestido, só seria aberta por ocasião do Natal - trazia imagens de presépio. Roberto e eu fomos condecorados com medalhas no pescoço, em fino cordão de prata, e na cabeceira de cada um ela pendurou um quadrinho de vidro com a estampa da Virgem Maria. Também nas camas de meus irmãos ausentes, Raymundo e Layce, estudantes em Belo Horizonte, ela pendurou quadrinhos. Dona Carlota seguia uma rotina praticamente imutável. Levantava-se às 5h30 e após as abluções matinais abria a janela do quarto, sentava-se na penteadeira, empoava-se e refazia o coque, pois dormia de cabelos soltos após escová-los. Ia então para a poltrona sob a janela e passava a ler algum dos seus livros de oração. Quando sentia o aroma do café a subir da cozinha situada abaixo do quarto, descia para tomá-lo. Sempre havia alguma iguaria baiana no desjejum, fosse aipim (mandioca) na manteiga, batata-doce, mingau de milho verde, beijus ou banana-da-terra em tiras, fritas e polvilhadas com açúcar e canela. Eu adorava essa banana frita, mas nem sempre era encontrada no mercado. Ah, havia também o mingau de maisena em seu cardápio matinal. Terminado o café da manhã, vovó lia com o auxílio de uma grossa lente - odiava óculos - os jornais locais Gazeta do Norte, O Jornal de Montes Claros, comunicados da paróquia da Catedral e o Jornal do Brasil, que chegava aos assinantes de Montes Claros três dias após sua publicação no Rio. Voltava ao quarto de dormir para cuidar da correspondência, escrevia ou respondia alguma carta a bico de pena e passava ao tricô até a hora do almoço. Vovó Carlota não era de cozinha. Às vezes apurava o tempero de alguma moqueca. Mas, a pedido nosso, dos meninos, fazia no tacho deliciosas balas de mel, sérias concorrentes das famosas puxas das freiras do colégio. E sorvetes e picolés de babar. Uma vez por semana orientava a cozinheira na feitura de biscoitos que me mandava entregar às amigas da vizinhança, donas Fininha Ribeiro, Mariana Lopes, Geny Souto, Amélia Antunes, Lourdes Teixeira, Nininha Rodrigues, Toinha Deusdará, Maria Santana Machado e Nina Alves França. Vovó não abria geladeira, temia apanhar uma constipação com a corrente de ar gélido... Tomava água do filtro ou da bilha do quarto. E não comia nada fora de hora. Mas era um bom garfo, gostava de tudo e, dependendo do prato, adicionava a este uma banana, costume baiano. Na época de pequi, ia de três a quatro, fato raro para os não nascidos nesta região. Boa baiana, não dispensava a farinha e o molho de pimenta introduzido por ela no novo lar, que papai adorava e eu passaria a apreciar. A receita: pimentas malaguetas e cebolas brancas picadas, imersas em suco de limão. Simples e bão. Na casa do irmão mais velho, Raymundo, esse molho vai diariamente à mesa. Após o almoço, vovó subia para o seu quarto, entregava-se à breve e sagrada sesta e nos recebia, os bisnetos, geralmente com algum amigo. Aos poucos o quarto-oratório impregnava-se do que eu chamava o "cheirinho da vovó". Velas, por vezes incenso, aromatizavam o ambiente. Ainda sinto o cheiro de suas roupas e bolsas quando ela abria o guarda-vestido. Havia ali uma bolsa especial, de couro preto com alças, onde ela guardava suas relíquias: fitas e medalhas de irmandades católicas às quais pertencera em Salvador - admirava sobretudo as de Oblatas do Mosteiro de São Bento -, alianças do casamento, chaves do ossário de meu bisavô Epiphânio e, sobrenatural para nós meninos, uma caixinha de madrepérola contendo mecha dos cabelos do finado. Às escondidas, volta e meia eu vasculhava essa bolsa e suponho ter originado aí a minha tara por bolsa de mulher - saber o que vai dentro. Na bolsa havia também uma carteira de marroquim, comprida, que fora de Epiphânio. Nela, fotos do casal, da filha Edith com meu avô Rubens - vovô Mamão, que pouco conheci - dos netos e bisnetos em criança e um artigo já amarelecido do jornal A Tarde, de Salvador, tecendo elogios à camisaria do Senhor Epiphânio Cruz, situada no Largo de São Francisco, onde podiam ser encontrados finos artigos masculinos importados diretamente da Inglaterra e França. Lá pelas 4 da tarde vovó tomava o seu banho, se vestia e descia para o café ou chá. Visitava as roseiras do pequeno jardim e sentava-se sempre na mesma cadeira do alpendre para rezar o terço. Eu a observava a passar as contas e mexer com os lábios, murmurando, mas me parecia que o seu olhar andava longe, talvez viajando no passado... A meu ver, ela vivera demais, era a pessoa mais velha que eu conhecia. De vez em quando ela nos mostrava seus álbuns de photographias. Tinham de daguerreótipos até fotos mais recentes, como um exclusivo do Congresso Eucarístico no Rio de Janeiro, ao qual comparecera. "Quem é essa, vovó?" perguntávamos apontando para alguém num álbum. "Minha amiga Iazinha, já está na eternidade..." respondia ela. "E esse moço?" "O Jonga, boa alma, também na eternidade..." "E esse menino de tranças, vó?" "Meu afilhado Rodolpho, teve morte horrível, atropelado por um bonde. Amputaram-lhe as pernas, mas não resistiu..." Quase todos naqueles álbuns já estavam na eternidade... Eu ficava a pensar: "Quando vovó Carlota irá para a eternidade?" Talvez nunca, concluía, ela é a própria Eternidade! Após a sopa - dona Carlota não jantava - ela voltava à sua cadeira do alpendre. Acercávamos dela, nós de casa e meninos da vizinhança, e sentados no chão à sua volta ouvíamos fantásticas histórias do tempo da escravatura, de como ela havia ficado a dois metros do imperador Pedro II em uma de suas idas à Bahia, o luxo que cercava a Corte. Contava também a sua vida, de como passara a morar com a tia e madrinha Virgínia aos 13 anos, após a morte da mãe Anna Reys por complicações de parto. Filha única, não podia acompanhar o pai, Modesto de Athayde, nas suas andanças pelos garimpos. De certa feita, viera ele com seus escravos até a cidade diamantífera de Grão Mogol, próxima a Montes Claros. Desviava cursos de rios e explodia montanhas a dinamite, meu tataravô Modesto, e eram essas as histórias que os meninos mais gostavam. Em menina, vovó Carlota brincava com diamantes e possuía 13 frascos cheios das pedrinhas. Ela então dava uma pausa na narrativa e, de olhos arregalados, boquiaberto, alguém palpitava : "Então a senhora era riquíssima!" Ou: "Onde foram parar esses diamantes?" Ela ria e continuava: "Não tinham valor algum, somente as pedras maiores eram vendidas." E para vendê-las, cinco ou seis pedras de maior quilate, Modesto se deslocava de vapor ao Rio de Janeiro. De lá essas pedras seguiam para Antuérpia, na Bélgica, ou Amsterdam, Holanda, até hoje os maiores centros de lapidarias do mundo. Com o produto da comercialização das pedras, ele deduzia os custos para obtê-las, enormes, saldava dívidas junto a fornecedores de equipamentos para garimpo, reservava o montante necessário ao seu padrão de vida e partia para uma nova aventura, depois de estação de águas com a mulher e a filha, minha bisavó, em Lençóis, Bahia. Nossa família não ficaria completa sem a chegada do extemporâneo Henrique, o novo caçula. Exímia bordadeira, vovó teceu e tricotou quase todo o seu enxoval. Se jamais demonstrara alguma predileção por algum dos bisnetos, o que viria foi o seu xodó. A Roberto e a mim ela presenteava no Natal e aniversários. No dia a dia alguns trocados para as matinês, os gibis e álbuns de figurinhas. A Henrique ela dava brinquedos caros em qualquer época do ano! Roberto e eu, já na segunda infância, não nos incomodávamos com o chamego dos dois e brincávamos a valer com o querido irmão, a rapa do tacho. Fomos crescendo e vovó Carlota envelhecendo ainda mais. Já não ia a pé ouvir missa na Catedral. Aos domingos, arrumava-se e ficava a esperar seus amigos Deraldo e Nininha Rodrigues para levarem-na de carro à igreja. Quando alguma procissão ia passar pela nossa porta, ela não tinha a energia de antes para estender sua colcha de brocado na janela e colher flores para ornar os dois vasos colocados sobre a mesma - mamãe a substituía. Em pouco tempo já não ia à missa e suas refeições lhe eram servidas na pequena escrivaninha do quarto – papai a proibira de descer a perigosa escada. Como nunca vivera período inflacionário e a década de 1960 foi pródiga em carestia, ela continuava a entregar a mesma quantia à nossa boa Aparecida para fazer suas compras de farmácia. Certo dia, Aparecida disse a papai: “Dr. Aroldo, o dinheiro de dona Carlota não está dando para comprar o que ela encomenda...” Papai ponderou: “Ela faz questão de comprar suas coisas, que assim seja. Faça o seguinte, mande a farmácia anotar o que ela quiser em minha conta, fique com o dinheiro e entregue algum troco a ela...” A ida do homem à Lua, em 16 de julho de 1969, foi um salto tecnológico sem precedentes na história da humanidade. Estudante em Belo Horizonte, eu passava as férias em casa. Vovó Carlota não acreditava na façanha americana. “É tudo mentira, fizeram um filme em algum deserto, tiraram retratos em alguns cenários...” Não houve meios de convencê-la de que Neil Armstrong pisara o solo do nosso satélite natural aos 20 de julho daquele ano. E aos 23 de dezembro Vovó Carlota partiria para a Eternidade – ruptura dos capilares – às vésperas do seu aniversário. Nascera em 26 de dezembro de 1872. Viveu no planeta Terra quase 97 anos. Salve a eterna Vovó Carlota! |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 29/5/2015 16:26:43 |
| Dona Carlota, Eu e a Eternidade... Primeira Parte - Vovó vem morar conosco! anunciou uma Lourdes eufórica. Dona Carlota era sua avó materna, minha bisavó e tataravó de minha filha Marina, que não a conheceu. O telegrama, ou western, como algumas pessoas nominavam aquele papel com boas ou más notícias, chegou por volta do almoço. Eu conhecera vovó Carlota em Salvador, onde passávamos os verões, mas aos seis anos de idade sua imagem fugia-me à mente, esfumava-se. Em casa havia telefone, linha 48, uma das cem então disponíveis à diminuta população da urbe, mas não realizava chamadas interurbanas. Para esse tipo de comunicação o telégrafo imperava, absoluto. Montes Claros foi a terceira cidade do país a contar com serviço telefônico automatizado para operações locais. Antes dessa novidade eu precisava pedir à telefonista para me conectar à residência do dr. Deusdará. Certo dia ela me disse, "Você quer falar com o Sérgio? Ele não está em casa, passou por aqui agorinha..." Sérgio era meu melhor amigo e irmão de leite, havíamos nascido na mesma semana e mamãe o amamentara por um mês. A razão dos telefonemas? "Que filme vamos ver hoje?" Quando não tínhamos natação com o mestre Sabu ou inglês com o Sr. Corrêa, logo após cumprido o dever de casa vinha a merenda e a matinê das 4. Aos sábados, futebol ou piquenique e, aos domingos, após ouvir missa na Catedral, era sagrada a ida ao cinema para a sessão das 10 da manhã, com direito a seriado do Zorro,Tarzan, Jim das Selvas... Eu compartilhei a alegria da família com a iminente chegada de vovó Carlota, o inverso da tristeza que nos tomara um ano antes, quando a notícia via telégrafo fora a morte de minha avó materna, Edith, única filha dela e de meu bisavô Epiphânio. Partira aos 56 anos - infarto fulminante. Alguns dias depois do golpe mamãe nos revelou que, pela cara do carteiro, intuíra que o telegrama seria funesto. Telefonistas e carteiros sabiam da vida de todos naqueles tempos. Mas eis que aos 84 anos chega a Montes Claros vovó Carlota. Fomos em dois carros de praça recebê-la no campo de aviação, pois era assim que a maioria do povo chamava aeroporto. Passei muito tempo pronunciando areoporto, como sistematicamente o fazia nosso presidente Castelo Branco. Quando eu o ouvia, após o golpe de 1964, eu me revia. Eu adorava aqueles táxis enormes, Plymouth, Chrysler, Oldsmobile, Ford... Meu preferido era o Mercury branco com vidros ray-bans do Sr. Thomaz. Ele sintonizava o rádio, me deixava acionar o vidro elétrico e ligava o acendedor de cigarros para meu pai. Mas nessa ida ao campo de aviação quem nos transportou foram Mário e Maroto, dois dos choferes de praça que mais serviam meu pai, médico, nas corridas para atender a algum chamado. A ida ao antigo aeroporto merecia uma filmagem documental: estrada de terra - lama ou poeira - atoleiros, facões, gado na pista, galinhas e pintos voando ao passar do automóvel... A companhia aérea que fazia o percurso Salvador-Ilhéus-Pedra Azul-Montes Claros-Pirapora-Belo Horizonte-São Paulo, ida e volta, era a Panair, que tinha como representante na cidade o Sr. Nathércio França. Depois vieram a Nacional, a Cruzeiro, e bem mais tarde a Varig, hoje também extinta. Todas elas utilizavam como equipamento de vôo o velho de guerra e seguro DC-3, até a chegada do turbo-hélice inglês da Varig, o Avro, com capacidade para mais passageiros. Dona Carlota Reys de Athayde Cruz, Reys de Athayde em solteira, desembarcou de preto. Trazia luto fechado pela morte da filha. Baixa, gorda, branquíssima, não sorria. Os cabelos presos em coque de há muito estavam brancos e lindos olhos azuis cintilavam em sua face corada, denunciando a ascendência europeia, belga. Ainda usava luvas, rendadas, pretas, caídas de moda no dia a dia, mas permitidas pela sua avançada idade. Mamãe tinha aversão a luto e papai, como os senhores da época, usava apenas o fumo - faixa de crepe preta em torno do braço do paletó, da camisa ou da copa do chapéu. No caso dele, paletó, do chapéu já se livrara. E camisas de mangas curtas somente as usava em praia. Crianças ficavam desobrigadas desse esdrúxulo costume, o luto. Vovó não veio de mala-e-cuia como esperávamos. Sua bagagem era reduzida e ficou conosco um mês ou pouco mais. Achou a cidade acanhada e deslumbrou-se com o tom de azul do céu, o mais belo que jamais vira. Algum tempo antes fora ao Congresso Eucarístico no Rio de Janeiro e só falava nisso. Sobre o imenso aterro do Flamengo, executado e embelezado para acomodar as dezenas de milhares de fiéis presentes ao evento, dizia: "O que o homem toma ao mar, o mar volta a recuperar..." Exortava meus pais a conhecer o Rio, sua prima Arlanza lhes serviria de cicerone lá... E patati-patatá... Havia trazido presentes para todos; ganhei um caminhão dos bombeiros e uma bola. Foi uma boa temporada aquela, mas, assim como veio, vovó Carlota partiu, prometendo retornar para de vez ficar. Sua situação em Salvador tornara-se insustentável após a morte do marido e da filha, minha avó Edith - viviam juntas. Uma das netas e um neto, solteiros, residiam em Salvador, mas tinham suas vidas. No Rio, dois outros netos, também solteiros... Restou-lhe o caminho de Minas e duas opções: morar com o neto José, meu tio e padrinho de batismo, já casado e juiz de direito em Resplendor, ou vir morar com mamãe, a neta Lourdes, em Montes Claros. Escolheu mamãe. |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 30/4/2015 16:18:35 |
| Rosalina Fonseca Procuro não perder tempo pensando no futuro, sempre incerto, o presente se impõe e, quanto ao passado, sim, muitas vezes me pego transportado, remetido a tempos idos. Mas não sou o que se possa chamar de saudosista, longe disso. O que mais me espanta ao observar as engrenagens, sinapses e demais conexões da máquina mental do tempo é a velocidade e a precisão - inatingíveis por qualquer máquina de fato criada por humanos - com que revivemos falas e cenas, saltando de um plano a outro focados em assunto pré-determinado, ou simplesmente deixando o barco à deriva, em volteios, sem ordem estabelecida. Encontro-me agora numa dessas revoadas mentais, imerso nos anos de 1960 em Montes Claros, pensando em, fixado em Rosalina Fonseca. Eu a conheci meninote, ginasiano, quando ia à rua D. Pedro II tomar aulas de português com seu pai, o professor Zezinho Fonseca. Afável, simpático, finíssimo -uma dama - ele devia andar pela casa dos cinquenta, mas me parecia bem mais velho devido aos cabelos totalmente brancos. Por sinal uma bela cabeleira a emoldurar-lhe a face sanguínea. O professor era baixinho, nem gordo nem magro. Filha única, Rosalina ia e vinha pela casa, meio irrequieta, pirralha de seus seis/sete anos, branquela, cabelos crespos e louros, rostinho rosado de boneca. Bem, o tempo passou e eis Rosalina moça. A mesma cara de boneca. Nem feia, longe disso, nem bela, um pouco aquém. Bonita a seu modo, pois trazia em si um charme que logo iria prevalecer. O termo da época para ela seria sexy, sim, era sexy, sensual. Ou, como diziam os cronistas sociais Lazinho Pimenta e Teodomiro Paulino (o agá do Theo veio depois), era dotada de sex appeal. Apelo sexual? Sim, e que o digam os jovens senhores casados de então, hoje setentões, aboletados nas mesas da pérgola da antiga piscina do Automóvel Clube, nas manhãs de domingo, para vê-la nadar. Boiar, melhor dizendo, pois Rose não dava braçadas, simplesmente oferecia seu corpo escultural ao deus sol, boiando. Ao deixar a água para entregar-se totalmente a Ele, não andava, flutuava, e o seu balanço a caminho da toalha estendida no gramado deixava loucos os marmanjos cervejeiros. Rose ficou órfã de pai aos 16 anos, se é que se pode usar tal termo para quem perde o genitor nessa idade, mas, como fora filha única e mimada, creio que ao seu caso o mesmo se aplica. Estudava no Imaculada Conceição, colégio de freiras que só aceitava moças. Foi uma estudante normal, disciplinada, até sua cabeça mudar. Na virada de menina pra moça deu-se a transformação, metamorfose meteórica, ou a sua evolução - de acordo com o ponto de vista. Rose passou a bebericar cuba-libre nas horas-dançantes que promovíamos e logo a fumar. Lia muito, sobretudo romances, por influência do pai. Desdenhava as garotas da sua idade, preferindo conviver com rapazes aos quais se misturava em conversas de bar. Na década de 1960, o seu inusual comportamento chocava a recatada sociedade local. Rose passou a despertar admiração, repúdio, inveja, mas nunca indiferença, pois onde chegasse sobressaía. Impossível não notá-la. Numa de suas viagens de férias ao Rio de Janeiro, retornou à provinciana paróquia com o guarda-roupa totalmente renovado - presenteou-se com um banho de loja, acessórios e tudo o mais. Sua primeira aparição em festa local, pós-Rio, causou furor. Não era Rose, era a Bonnie Parker do filme Bonnie and Clyde: botas de cano longo, saia nas canelas, cinto largo, casaco, bolsa, boina, tudo preto. Complemento indispensável, piteira longa, preta, com boquilha dourada. Unhas e boca escarlates. "Essa menina é muito avançada para a época", reprovava uma socialite... "É muito prafrentex pro meu gosto", acrescentava a filha com uma ponta de inveja... Rose, nem tchum, nem aí, estava acima de qualquer maledicência, blindada. Foi a nossa musa, nossa George Sand, Brigitte Bardot, nossa Leila Diniz. Outras, louváveis pela sua independência e afirmação da mulher vieram depois, mas foi Rose a pioneira. Marcou o seu tempo. Inesquecível! Por onde andas, menina? Rosalinda! |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 2/9/2014 15:40:30 |
| Hospitais e Presídios, algumas semelhanças... Egresso de longa temporada hospitalar, creio poder tecer algumas considerações a respeito do pessoal, atendentes* e pacientes, razão de ser dos hospitais, e do modus operandi a estes inerente. Afora isso, filho de médico que sou, além de conversas em casa, li, ouvi e assisti a alguns fatos curiosos ou nem tanto que passo a comparar a outros relativos a presídios, embora nestes últimos jamais tenha sido hóspede. Mas, certamente, vivi o bastante para estar razoavelmente informado sobre o que ali se passa. Ademais, esta breve crônica – nem mesmo ensaio é – não pretende ir além do sugerido no título. Ambas as instituições, hospitais e presídios, destinam-se à recuperação física ou comportamental de pessoas, procurando reintegrá-las, saudáveis, ao convívio social. É sabido que algumas dessas pessoas retornam aos nosocômios para procedimentos vários, bem como outras reincidem no crime, retornando às casas de detenção. Não param por aí as semelhanças. Também sabemos que é idêntico, diuturno e universal o desejo, o objetivo primeiro dos internos nessas instituições: o de lá escapar – seja através de alta hospitalar, seja do cumprimento de sentença ou fuga. Esta, a fuga, pode dar-se também em hospitais, o que vem acentuar ainda mais as semelhanças de que aqui tratamos. Na chegada, uma vez trajados com a indumentária fornecida pela instituição e encaminhados a aposentos coletivos, internos de hospitais e presídios não precisam se dar ao trabalho ou talvez passar pelo constrangimento de dizer aos companheiros de infortúnio o porquê de ali se encontrarem: a notícia já correu, célere, levada por enfermeiros e carcereiros. Depois, detalhes de cada caso sairão espontaneamente em resposta a olhares inquisidores. Sucede-se então a rotina do dia a dia, intermináveis e solitários dias. Nas enfermarias e celas o burburinho começa logo após o nascer do sol. É o café da manhã, seguido da limpeza e higienização dos ambientes, isso em instituições que se prezam e que aqui nos servem de modelo**. Em seguida o banho de sol para aqueles que podem tomá-lo. E a jornada continua, idêntica à da véspera: lanche, almoço, merenda, jantar e ceia, que têm como denominador comum o aroma nada agradável e sabores questionáveis – queixa generalizada. Enfim, dormir, se é que se dorme direito nesses lugares. Serviços religiosos também estão disponíveis. As visitas, em horários e dias marcados, são aguardadas com grande expectativa nesses locais. Quando não de médicos ou advogados, são familiares, amantes, namorados ou amigos que vão levar conforto aos seus queridos. Em hospitais e prisões, visitantes geralmente costumam ser revistados à entrada. Nos primeiros, para não introduzirem alimentos ou objetos não permitidos; nos segundos, mais rigorosos, para evitar principalmente o repasse de aparelhos celulares, armas ou drogas aos detentos. Finalmente, embora não tenhamos elencado aqui todas as possíveis semelhanças entre hospitais e presídios, desejamos a todos os internos dessas instituições que as deixem o mais breve possível. Obviamente, vale para os detentos o recurso à fuga, em havendo chance para tal – a liberdade não tem preço! *Aproveito o ensejo para agradecer à equipe de enfermagem da Santa Casa – setor de transplantes – pelos cuidados a mim dispensados recentemente, bem como ao corpo médico que me assistiu. Fica o registro. **Para efeito das comparações ao longo do texto, tomamos por base presídios e hospitais modelares, não de primeiro mundo ou de tempos medievais como talvez possam parecer, mas que pelo menos tenham observado o disposto no projeto original quando da sua implantação. Acrescente-se que, no Brasil, e aqui vai mais uma semelhança, hospitais e presídios, com raríssimas exceções, vivem superlotados. |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 21/8/2014 13:03:58 |
| Uma Temporada no Purgatório Para Rimbaud, Arthur(in memorian), autor de Une saison en enfer. Sessenta e cinco dias – 15 de junho a 18 de agosto – de permanência na nossa querida Santa Casa, onde fui muito bem tratado, nada tendo a reclamar – senões, os esperados, normais em recuperações de intervenções cirúrgicas como as quatro pelas quais passei em 15 e 16 de junho, 3 e 5 de julho, sem falar na pneumonia que levara comigo. Foram dias de reflexões forçadas sobre o sentido da vida e sua valorização, pois, como muito bem diz meu amigo Joel Antunes , a mesma só da uma safra. Ali, naquele nosocômio de tão gratas e tristes lembranças vi, aprendi e trouxe comigo raros exemplos de solidariedade humana, como também de egoísmo, de apego e desapego a vida, de profissionalismo – aproveito o ensejo para agradecer a todos os que lá cuidaram de mim – e muito me distraí. As observações que se seguem refletem alguns exemplos do que curti nessa longa temporada que não recomendo a ninguém. Procedimento, no jargão hospitalar, consiste em qualquer ato realizado tendo em vista o paciente ou com o próprio, tais como preparar material ou ambiente adequado ao que se seguirá, dar-lhe banho, operá-lo, tomar-lhe a pressão (ou tensão, se na Bahia), fazer curativos etc. Termo correto, pois de maus procedimentos ninguém está a salvo. E intercorrência, de onde vem isso? Nada mais é do que um fato novo, por vezes imprevisto, surgido entre procedimentos, como uma hemorragia ou queda do paciente durante o banho... O paciente surtou, rebelou-se, arrancou soros e sondas do corpo, ergueu-se num rompante sem ainda poder fazê-lo, mordeu o braço da enfermeira? Não se diz “vamos amarrá-lo” às grades do leito e, sim, corretamente, “vamos contê-lo”, pois, tanto ele pode ser realmente amarrado, manietado, como submetido a procedimento medicamentoso que o deixe inerme, o popular sossega leão. Marreco, em hospital é o jarro, 30 cm, de boca larga com alça onde homens fazem xixi, recostados no leito ou de pé. Em casa, usa-se o penico ou urinol, normalmente sentado. É o oposto de comadre, utensílio utilizado para colher o xixi das mulheres, sempre deitadas, ou de ambos os sexos quando o assunto é cocô na cama. Feita essa breve distinção, nós, leigos, dizemos “jogar fora” o conteúdo do marreco, não nos ocorrendo outra expressão para tal. No entanto, profissionais de hospital dizem “desprezar” o conteúdo, ou seja, o xixi. Fiquei a pensar: se há o desprezar, deve haver o que prezar, certo? E há. Como o marreco vem graduado em mililitros, prezar é medir, e muitas vezes registrar, o quanto de xixi se vai desprezar. E como aferir o xixi da comadre? Simples, basta transferi-lo para um marreco... Obrigado pela atenção. |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 27/5/2014 19:28:49 |
| LEOCÁDIO Contava um sem número de mortes no costado. Especialidade, armas brancas, de preferência a peixeira ou, a depender do caso, faca, punhal ou facão. À foice, retalhara dois, a namorada-quase-noiva e o vaqueiro que nela montava, flagrados numa canoa à beira do rio. Com a roupa do corpo deixou a roça e a cidade próxima para nunca mais voltar. O delegado determinou algumas diligências infrutíferas e logo abandonou o inquérito policial. Julgava traidora e amante merecedores do trágico desfecho. Leocádio passou a matar por encomenda. Nada tinha contra, nenhuma quizila com as vítimas, desafetos de outrem, os mandantes. Não poucas vezes nem mesmo as conhecia, guiava-se pelo retrato ou informações precisas. Seus crimes, sempre perfeitos. Pela justiça dos homens jamais acabaria na cadeia. Aos cinquenta e poucos anos, apontava-lhe o balanço da trajetória sanguinária que pouco conseguira: uma casinha em rua afastada e poeirenta de Pirapora, onde morava só, e algum dinheiro sob o colchão. Leocádio era mineiro das barrancas do São Francisco. Conhecia boa parte dos municípios do norte de Minas, em especial Montes Claros, cidade próspera que lhe rendia vultosos contratos. Certa feita, eliminara um senhor de meia idade dentro do trem que ia daquela cidade a Belo Horizonte. Descera então em Corinto, a meio caminho, e retornara a casa em outro comboio. Tido em Pirapora como cidadão exemplar, Leocádio dos Santos vivia aparentemente dos parcos rendimentos de estafeta dos Correios, cargo que lhe fora arranjado por um cliente local. Mas isso fora há anos, achava-se agora prestes a se aposentar. Planejava mudança para Belo Horizonte tão logo caísse na inatividade. Lá, poderia ir ao cinema todos os dias, o que adorava, e pescar no parque municipal. Tomaria também uns chopes, provara e gostara. Não afeito ao álcool, só bebia cachaça, um copo de virada, antes de despachar alguém, de sorte a manter o equilíbrio emocional. Feitas as contas, afora o dinheiro sob o colchão, produto das encomendas, restava-lhe uma mixaria no Banco do Brasil, onde recebia o ordenado de estafeta com o qual se mantinha. A grana grossa dos extras era gasta nas férias, invariavelmente curtidas em Belo Horizonte, para onde dizia ir em visita à tia-madrinha, única pessoa da família que lhe restara... Compreendiam-no, vizinhos e poucos amigos. Tempos atrás esticara as férias ao Rio de Janeiro, queria ver o Carnaval, conhecer o mar. Eufórico com o desempenho dos blocos e escolas de samba, verteu duas tulipas de chope e dois conhaques. Abordado por uma bela loura, deixou-se levar a hoteleco na Lapa. Seria a sua segunda mulher. Ah, não pensou duas vezes antes de passar a mão na peixeira colada às costas e metê-la no rabo do travesti. Fora esse o seu segundo crime por conta própria, esquecera-se, eram tantos os outros... Honrado mais um compromisso, rendoso, a vítima um figurão da política, invasor de curral eleitoral alheio, Leocádio, em férias, tomou o trem para Belo Horizonte, onde chegou pela manhã. Hospedou-se na pensão habitual, próxima à estação ferroviária. Após o almoço resolveu logo sondar, em imobiliária, a compra de um quarto-e-sala no centro da cidade. Daria a entrada, alugaria o imóvel, os rendimentos deveriam cobrir o valor das prestações... Aposentado, venderia a casa em Pirapora e quitaria o restante da dívida. Teria então assegurados o anonimato e o seu canto na capital... Leocádio dos Santos não chegou à imobiliária. Na avenida Amazonas viu a namorada-quase-noiva a dois metros de distância. Seguiu-a alguns passos. Aturdido com a inconcebível visão, dirigiu-se à hospedaria e, fora de si, enforcou-se. |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 22/5/2014 15:22:36 |
| MARIA DO CARMO Desde que Naná morreu subitamente no batente, era chagásica, ninguém sabia, mamãe se queixava de não encontrar quem a substituísse. Pudera, laborar em casa com oito pessoas, seis crianças em escadinha, não era para qualquer uma. Naná fazia todo o serviço doméstico, acompanhava mamãe às compras, servia de babá à caçula da prole e ainda cuidava de Vesúvio, o nosso cachorro. Jamais tivera tempo para si, exceto as duas horas semanais que dedicava à sessões espíritas. Pobre Naná, que Deus a tenha. Eu e três irmãos apertávamo-nos em um quarto com dois beliches, as meninas ocupavam o quarto ao lado, parede com o de nossos pais. Minha janela dava para a área, cimentada, coberta com telhas e ladeada por pequeno quintal com horta e enorme jaqueira que nos inspirava brincadeiras de Tarzan. Um barracão nos fundos abrigava a lavanderia, cozinha, despensa, quarto e banheiro de empregada. Finalmente, depois de testar algumas candidatas, mamãe encontrou a criada que talvez lhe servisse. Oriunda de pequena comunidade rural, o que a velha apreciava, dizia nunca ter tido namorado, o que contava no currículo, e que estava disposta a enfrentar o serviço. Havia um não pequeno senão, queria estudar à noite, mamãe foi contra, mas papai interveio em favor da moça – Estamos no século 21, Amélia! De nome Maria do Carmo, a sujeita à eliminação sumária possuía belo sorriso, de iluminar a casa. Não me passou despercebida a passada em revista de meu pai pela sua bunda, arrebitada, um achado. Ele viu que eu o vi e desviou o olhar. Nós nos entendíamos. Dois anos antes ele me surpreendera no banheiro em animada masturbação. Estupefato, esperei pela bronca que não veio. Ele apenas sorriu, disse vá em frente, garoto!, e tranque a porta da próxima vez. Não prossegui com a bronha, broxei. Meninos havia na minha turma que comiam as suas empregadas. Outros, como eu, lastimavam a má sorte. Em casa, após o falecimento de Naná, passaram três ou quatro, todas indesejáveis para o ato. Com Maria do Carmo eu poderia, até que enfim, tirar o atraso, pensava. Ela tinha 18 anos, eu faria 16 dali a um mês. Já não me aguentava mais de tesão reprimida, irreprimível. E punheta não mais me bastava, queria ir no couro, conjunção carnal. Noviço, eu carecia da manha necessária à conquista, como passar a lábia na presa? Meu repertório baseava-se em depoimentos de colegas: “Cheguei até a cozinha, ela estava de costas, me esfreguei em sua bunda e apalpei os peitos, daí pra frente foi mole...” Ou: “Depois que todos dormiram, fui até o quarto da baixinha, a porta estava aberta, deitei-me pelado ao seu lado... Ela dormia só de calcinha... Quando acordou não teve mais jeito...” Meu cenário era diferente, em casa não havia lugar sem gente. Teria de ser à noite, depois que todos dormissem, e no quarto dela. Encontraria a porta aberta? Num belo sábado, parti para a aventura. Todos dormiam. Saltei a janela, ganhei a área e girei a maçaneta do quarto de Maria do Carmo. Nada. Tentei a janela, neca. Voltei para a cama com o coração aos saltos. No café da manhã do domingo, lá estava o monumento com parte dos seios à mostra. Era de deixar qualquer um louco! Até rezei para que mamãe a despedisse, me livrasse do labéu que estava prestes a ostentar. – Eu já ia tirar a mesa, isso são horas de levantar? – Dormi mal, muito calor, durmo de janela aberta, e você? – Tenho medo de ladrão. – Ladrão? Com Vesúvio no quintal, pode escancarar a janela... O que está lendo? – A Contigo nova, ainda saio em capa de revista, é o meu sonho. – Você é muito bonita, merece até mais que isso, já pensou em ser atriz? – Você me acha bonita? Obrigado. Maquinei rápido. – Você sabe que meu pai é jornalista, certo? Pois bem, talvez ele consiga publicar sua foto na revista dele. É um bom começo, o que acha? – Vou sair na capa? – Na capa não prometo, mas vou mexer meus pauzinhos. À noite, depois que todos dormirem, irei ao seu quarto para conversarmos melhor sobre o assunto, combinado? – Combinado. Quando o relógio de parede deu as doze, todos dormiam. Saí da cama de fininho e de pijama fui ao quarto de Maria do Carmo. Bati levemente na porta e ouvi de dentro que estava aberta. Entrei, luz acesa. – E aí, falou com seu pai? – Não é somente ele quem define a capa, mas falarei com os outros. – Eu faria tudo para sair na capa de uma revista. Aquele “tudo” prometia... Sentei-me ao seu lado na cama. Desajeitado, tomei-lhe a mão e logo escorreguei-a para as coxas. Ela se afastou e disse coisas que nem gosto de lembrar. – Eu tenho namorado e não sou mulher de dois homens. – Namorado? Você não sai de casa... – É o Luizim. Deixei o quarto abobalhado. Luizim... Luizim era o irmão logo abaixo de mim! |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 24/4/2014 16:35:05 |
| GENERALÍSSIMO! Para o amigo Valeriano Lopes Braga Afinal, o Poder! Rarefeitas as lembranças das mansardas dos tempos de estudante pobre, das barricadas nas cidades e trincheiras no campo, em luta contra tropas do seu antecessor, da eleição para a secretaria-geral do Partido, das refeições duvidosas servidas nos grotões quando da memorável campanha a governador, agora bastava-lhe estalar os dedos e um garçom surgia do nada com o champanhe. Longe do povo! Recebia em palácio somente quem desejava. Em geral, alguns deputados e senadores, interventores estaduais, altos magistrados, banqueiros, homens da indústria, dignitários estrangeiros, o alto clero, militares de alta patente, seus ministros e, sobretudo, amigos. Prefeitos? Unicamente em comitivas. Enfim, livre! Promessas? Quem as poderia cumprir? Ou lhe cobrar? Poderia ser deposto? Em tese, porém, os soldos triplicados lhe garantiam a coesão e o apoio imprescindíveis das Forças Armadas. Como na Roma dos imperadores, alguns sestércios lançados ao ar lhe asseguravam a permanência à frente da Nação. O povo? Que povo? Este andava famélico e alienado, jamais esboçaria qualquer reação aos seus propósitos. A classe política? Conhecia aquela gente... E ai daquele que se insurgisse contra os seus desígnios! Fecharia o Parlamento, se preciso. Em resumo: não havia condições objetivas para a sua deposição ou golpe de estado, asseguravam-lhe fiéis membros do conselho militar egressos do War College. O que a imprensa nanica, também dita alternativa, clandestina, isso sim, teimava em nomear de desmandos? Apadrinhar, proteger interesses, atender a correlegionários configurariam desmandos? Quem suportaria tantas solicitações de companheiros de primeira hora? Falavam em censura, repressão, torturas... Ora, fazia-se mister sufocar no nascedouro o mais tenro embrião de inconformismo! A Nação clamava por segurança, paz, progresso! Meia dúzia de comunistas desclassificados não lhe iriam atravancar o mandato, legal e legítimo, duramente conquistado após verdadeira guerra civil que deixara algumas dezenas de milhares de mortos. Que berrassem do exílio! Ou paredón! A ilha paradisíaca a trinta milhas da costa, sua idílica Xanadu, com o seu inefável harém, três centenas de ninfetas e cortesãs, oitenta eunucos, cassino, campo de golfe, arco e flecha, esportes náuticos e equestres, helicópteros..., eram coisas que se deixasse assim? Evidentemente o populacho desconhecia aquilo. E pra que saber? Vivia, a classe trabalhadora, tão feliz com o que tinha! Ademais, suas mesquinhas preocupações com o dia a dia não se podiam comparar às intangíveis tensões a que estava ele submetido. Nascera para mandar, governar, fora predestinado pela Providência a dar solução à questões inimagináveis para o comum dos mortais. Seu colega Stroessner não o chamara de Grande Líder, Grande Estadista? Pinochet não o condecorara três vezes? E o que dizer do proletariado, segmento laborioso, que o adorava como a um pai, ou melhor, como a um Deus? Sim, merecia ser idolatrado e deificado por aqueles corações puros... Quantas toneladas de alimentos, de vacinas e de remédios não enviara a bolsões carentes? Cega pelo ódio, a reduzida oposição ao seu governo não via tais benevolências, suas mãos sempre estendidas aos compatriotas necessitados! Só sabia achincalhar o seu governo. Sempre fora um homem probo, destituído de vaidades mundanas. Se almejara o título de Generalíssimo e o impusera ao Congresso Nacional, não o fizera por si – oh, como fora mal interpretado – e, sim, em resposta aos impostergáveis anseios da nacionalidade. Generalíssimo! Ao contrário de General-Presidente, cujo risco de cair soava patente, o superlativo, não, suscitava um maior respeito, pressupunha continuidade, estabilidade, sustentabilidade, ordem, enfim, o que o País reclamava para poder prosseguir na sua marcha inexorável rumo ao pleno desenvolvimento. Ah, se desviava alguns milhões para sua conta bancária no estrangeiro, o fazia fundado em razões de Estado, assim como mantinha bem equipadas as Forças Armadas, para a eventualidade de uma insurreição popular que, mesmo remota, não eximia de prevenções necessárias o dirigente cioso de seus deveres para com a Pátria e a democracia Ocidental! Sim, em breve seria ungido Generalíssimo, data da verdadeira independência do País! Lançaria, na ocasião, a pedra fundamental da sua perpetuação no Poder. Depois, quem sabe, Imperador? |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 13/2/2014 14:05:28 |
| O BAILE DO CABIDE Tirante o tiroteio de outubro de 1930, que deixou mortos e feriu o então vice-presidente da República, Sr. Melo Viana, o acontecimento histórico mais lembrado tendo como palco a praça dr. João Alves, em Montes Claros, norte de Minas, é, sem qualquer dúvida, o Baile do Cabide, título que a imprensa local deu ao evento festivo-amoroso promovido por alguns jovens há 40 anos. Sim, passadas quatro décadas, centenas de montesclarenses ainda rememoram, não poucos com uma ponta de inveja, lances da bacanal. Recentemente, disse-me uma amiga que, reiniciadas as aulas naquele ano, o assunto não fora outro nos recreios do colégio das freiras. Mas poucos, ou apenas os participantes, conhecem os fatos que levaram ao inusitado festim - para a época -, distorcidos propositada e maldosamente por pseudo cronista policial militante da extrema direita. Daí, simples farra de garotos e garotas sadios, releitura comportamental do que faziam com putas, velhos guardiães da moral e dos bons costumes regionais, ter-se transformado em caso de polícia e manchete de jornais. Em nome dos participantes da noitada inesquecível, e alguns deles não foram citados pela imprensa - razão pela qual omito o nome de todos -, escrevo estas linhas, para que a data não passe em branco. A verdade verdadeira dos fatos que levaram ao chamado Baile do Cabide, não contestados pelo inquérito policial, daí não ter sido instaurado processo, é a que se segue. Num belo e ensolarado final de tarde do verão de 1974, turma de garotos da vanguarda local encontrava-se na residência dos pais - então em férias no litoral - deste narrador. O som, muito exigido naqueles dias, pifara de repente. Tristeza geral, pois ali estávamos para ouvir o novo LP do grupo inglês Jethro Tull, o antológico Thick as a brick. Que fazer? Jim, o mais prático e expedito da turma, tentou resolver o problema e, não atinando com a sua causa, saiu em busca de um técnico nosso amigo. Não tardaria a retornar da missão. Dri, o técnico convocado, pôs a coisa a funcionar, Jim levou-o de volta a casa, passou pela sua, merendou, e, quando voltou a dar o ar de sua graça, trazia a reboque cinco graciosas beldades com bolsas a tiracolo. Nenhum de nós as conhecia. Haviam fugido de casa e flanavam pela cidade. Justamente na praça dr. João Alves, Jim as encontrara. Aguardariam ali, até às seis da manhã do dia seguinte, a chegada de um rico, poderoso e conhecido ruralista, pai de família - razões por não ter o nome nos jornais -, que as levaria de automóvel para conhecer Belo Horizonte. Também lhes prometera um banho de loja na capital. Ora, não podíamos permitir que as coitadas passassem a noite ao relento. E foi assim que tudo começou. Mas nenhum de nós imaginava a orgia dionisíaca que se seguiria. Tudo aconteceu com uma certa ordem, nada de suruba, devassidão, pândega, esbórnia, rapioca ou outros sinônimos inadequados e utilizados pela mídia impressa para descrever o festim. Prevaleceu o livre arbítrio. Tanto é que, uma das moças, de dezessete anos, a única menor de idade, lá entrou virgem e saiu virgem. Ficou apenas nos amassos, sarrinhos leves. Enfim, a mentira é sempre mais interessante do que a verdade, como disse o genial Federico Fellini após a estreia do seu Satyricon. |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 4/2/2014 14:38:55 |
| VOLVER A LO TIEMPO...Minha atuação na final da Copa de 1970 Depois das vitórias em todas as partidas da fase eliminatória e das cinco das semifinais, eis que a seleção canarinho chega à grande final contra a Itália, na data histórica de 21 de junho de 1970, no estádio Azteca, cidade do México. Hora do Brasil: 16:00. Acordei cedo - se é que dormi - naquele dia. Fui almoçar com os Guedes e lá assisti ao jogo. Eu morava em BH. O capitão Carlos Alberto levantou a taça Jules Rimet*, entregue pela última vez em Copas, agora em caráter definitivo. Essa Copa foi a primeira a ser televisionada em cores. Pela primeira vez, substituições foram permitidas em Copas do Mundo. Cada time poderia fazer duas alterações durante o jogo. Essa foi também a primeira Copa a apresentar o uso dos cartões amarelo e vermelho para advertências e expulsões, respectivamente - as advertências e expulsões já existiam antes de 1970. Na final, o Brasil saiu na frente, com Pelé cabeceando um cruzamento de Rivelino no minuto 18. Roberto Boninsegna empatou para os italianos após falha da defesa brasileira. Gerson bateu um forte chute para o segundo gol e ajudou na marcação do terceiro, com um lançamento de falta para Pelé, que cabeceou para Jairzinho. Pelé finalizou sua grande performance saindo da marcação da defesa italiana e assistindo Carlos Alberto, no flanco direito, para o gol derradeiro. O gol de Carlos Alberto Torres, após uma série de passes da seleção brasileira da esquerda para o centro, é considerado pela BBC o gol mais bonito de todos os tempos. Dos onze jogadores do time brasileiro, dez tocaram na bola antes do gol. Consagrada a vitória e a transferência definitiva do caneco para o Brasil, como tri-campeão, tomei o elevador e cheguei à rua Tupis, centro. Ainda dava para andar, mas, logo, logo, a via foi tomada por pessoas de todas as idades, carros buzinando, de motos não lembro. Na Tupis com São Paulo, ambas congestionadas, o trânsito parou. Foguetório, chuva de papel picado, bandeiras desfraldadas, charangas, cantorias, garotas em biquinis verde-amarelo vibrando e dançando em carrocerias de caminhonetes, fantasias variadas, um Carnaval! Não demorou muito e passei a encontrar amigos, de MOC e BH, e também não demorou muito para engendrarmos uma ideia que viria a se tornar um achado. Coisa simples: pedir dinheiro aos motoristas para a bebemoração...Éramos uma turma de dez ou doze e em pequenos intervalos esvazíávamos os bolsos numa mesa do bar Siroco, na citada esquina. Roberto Tanajura, o Bob Maldade, encarregado do caixa, em breve anunciou: "Podem parar de mendigar porque a grana a rrecadada já dá pra beber o bar!" Bebemos e distribuimos cervejas e refrigerantes a quem solicitasse. Juntamente com frequentadores e passantes a consumir, em duas ou três horas o bar fechou por absoluta falta do que vender. Mas nos sobrava dinheiro, notas de todos os valores e muitas. Então, alguns companheiros desertaram e nós, os sobreviventes, peregrinamos por mais alguns bares do centro e acabamos numa macarronada na praça Raul Soares. Amanhecia. *Essa taça, que permaneceria para sempre no Brasil, foi roubada por dois homens armados que invadiram a sede da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, no Rio de Janeiro, em 20.12.1983, e nunca mais apareceu. Possivelmente derretida e transformada em barras - 1.8 de ouro maciço e 55 cm de altura -, hipótese mais provável, ou vendida para algum colecionador. |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 23/1/2014 16:39:35 |
| NO TERREIRO DE COUTO Couto foi um dos meus personagens de infância. Sua mãe era dona da pensão Comércio e ele de oficina de bicicletas, ambos os estabelecimentos funcionando na praça dr. João Alves, onde minha família residia. Eu tinha alguns amigos que moravam na pensão, os irmãos Jayme, Leônidas e Jarbas Gusmão, colegas do grupo escolar Gonçalves Chaves, que aqui vieram estudar. A praça era o nosso quartel-general. Ali, juntamente com meninos das redondezas, brincávamos de tudo: futebol, soldado e ladrão, pegador, esconde-esconde, cabra cega, finca, bolinha de gude, empinávamos araras, de rabo e surecas, estas destinadas a capturar araras inimigas – passávamos goma com pó de vidro na linha – e outros folguedos da idade. Pilotávamos também carrinhos de rolimã. O piso era inadequado para a prática de patins e skate ainda não existia. Quando aos nove anos ganhei minha primeira bike, Monark sueca grená comprada na loja da gráfica Orion, Couto dava a manutenção: colar pneus, lubrificar etc. Lavá-la, minha tarefa, o que eu fazia com prazer. Assim, começamos a frequentar sua oficina, eu e outros meninos também seus clientes. Lembro-me bem de Vaninho Antunes, Dema, Cezinha, Fu, Oswaldinho e Ricardo Souto, meus vizinhos, Raimundo e Ricardo, filhos de Cely e Alberto Paculdino Ferreira. Com a convivência, Couto passou a ser o nosso herói. Ele possuía uma das duas ou três motocicletas então existentes na cidade, BSA preta equipada e tratada como namorada, tamanho o cuidado que dispensava à mesma. Couto era um mocetão de seus vinte e poucos anos, mulato bem apessoado, bigode, e montado nessa moto fazia o diabo. Nas noites de fim de semana, envergava um de seus ternos de linho branco que a mãe lavava, engomava e passava, sapato bico fino de duas cores e se mandava para o baixo meretrício, logo ali abaixo, região da Catedral, onde pontificava o casarão de Roxa, ou mais além, território de Anália na praça de esportes. Na segunda-feira à tarde, todos reunidos na oficina, ele nos contava suas peripécias com prostitutas, malandros e polícia. Mas não se metia em brigas e jamais fora preso. Foi ali que aprendemos termos – gigolô, gonorréia, cavalo de crista – e coisas de que jamais havíamos suspeitado... Meu pai, médico, tratava as recorrentes blenorragias do nosso vizinho. Couto passou a estudar em livros de umbanda, decorar cantigas em nagô, aprendeu a tocar atabaque e, aos poucos, foi deixando reparos de câmaras de ar e lubrificação de bicicletas a cargo de um meninote aprendiz, Gerinha do Morro. Continuou com o serviço de pintura de bicicletas e atendimento mecânico às outras duas ou três motos da cidade. Sua vida, afora a raparigagem, era dedicada cada vez mais aos mistérios do além. Com a morte da mãe e o arrendamento da pensão, viu-se livre para cumprir o seu destino: montou um terreiro de candomblé no bairro Maracanã e para lá se mudou. Salvo engano, a oficina de bicicletas passou a Gerinha, que algum tempo depois montaria oficina de conserto de geladeiras, no que se deu muito bem. Perdi o contato com Couto. Fui estudar fora e, quando em férias, ia às vezes à oficina papear com o amigo Gera. Este tornara-se exímio capoeirista, chefiava turma temida nos Morrinhos e, de certa forma, foi uma espécie de meu segurança, pois, quando me encontrava em gritos e bailes de carnaval, ele sempre passava por mim e perguntava: “Algum problema aí?” As brigas entre turmas eram uma constante na época. Ficaram célebres os embates entre as de Gerinha do Morro e Gerinha Português. Passados alguns anos, encontrei-me com Couto num dos bares da antiga rodoviária, aonde fôramos comprar cigarros, eu, Geraldo Madureira – Grego – Reinaldinho Oliveira e Hélio Guedes, Patão. Perguntei-lhe sobre o terreiro e ele disse que ia de vento em popa. “Assim de meninas e eu cantando: Já chegou, já chegou, o caboclo mamador; tá na hora, tá na hora, tirem os peitos pra fora...” Em seguida convidou-nos a ir ao terreiro. Mas, à uma da manhã...? Fomos, não sem antes comprar uma galinha assada e farofa, garrafa de pinga e alguns charutos. O bairro Maracanã era um deserto. Uma casinha ali, outra acolá... Nenhuma rua calçada, neca de iluminação pública, nenhuma benfeitoria. Enfim, chegamos. Casa simples, cerca-viva baixa isolando-a da rua, jardinzinho perfumado – damas da noite –, sala, dois quartos, cozinha. Banheiros, masculino e feminino, ficavam fora, no terreiro, círculo cimentado e coberto com palha, mureta em volta servindo de assento. Acenderam-se lampiões a querosene. Tomamos lugar nos dois pequenos sofás existentes na saleta e calados ficamos. Couto voltou da cozinha trazendo copos, serviu-nos da pinga, tomou uma e encheu outro copo até as bordas, que depositou aos pés da imagem de Exu disposta a um canto. Acendeu velas em torno desse copo. Disse que comeríamos a galinha assada depois da cerimônia, pediu licença e entrou num dos quartos. Voltaria transfigurado. Calça e túnica em cetim escarlate, capa ou manto da mesma tonalidade, na cabeça um capacete com chifres. E na mão um trinta e oito, cano longo. Ficamos boaquiabertos. Revólver? Ele não parou para explicar. Chegou até a porta que dava para o terreiro e disparou para o alto, um, dois, seis tiros. Esvaziou o tambor. Só aí disse: “É pra mudar o disco!” Sentou-se num banquinho e pediu que acendêssemos os charutos em homenagem ao santo. Conversamos, não me lembro sobre o quê, não nos foi servida mais pinga e ele nos conduziu ao terreiro. Reinaldinho, o último da fila, abaixou-se ao passar por Exu e tomou um gole da pinga deste. No terreiro, Couto pediu que nos sentássemos em semicírculo – havia uns seis banquinhos ali –, afastou-se alguns passos, olhou-nos um a um nos olhos e ajoelhou-se. Tirou a capa e estendeu-a no chão. Em seguida, colocou cerca de seis a oito garrafas deitadas sobre a capa e, com outra garrafa mais resistente, partiu as demais em cacos. Observávamos. Tirou o capacete, ficou de quatro, ajeitou a fronte sobre os cacaréus e, inacreditável, começou a triturá-los... Quando acabou, uns cinco minutos depois, pediu que verificássemos sua cabeça. Nenhum filete de sangue! De volta à sala, Reinaldinho deu o alarme: “Couto, o copo do santo baixou!” Ele somente sorriu e disse: “Pai tomou um gole.” Veio a galinha com farofa, tomamos o resto da pinga, fumamos mais um charuto e nos despedimos . No caminho de volta o assunto não poderia ser outro: “Será que vimos o que vimos?” Grego sentenciou: “A pinga, pouca, não deu para nos embriagar; o charuto não era de maconha, portanto, esse Couto tem mesmo parte com o demo ou é ilusionista ou mágico! |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 16/1/2014 15:50:10 |
| Ao governador Antonio Anastasia: auditório do CELF interditado há um ano. Minas Gerais é o único estado do Brasil que conta com escolas de música na rede pública de ensino. O estado conta com mais doze conservatórios de música que são mantidos pela secretaria estadual de Educação nas cidades de Araguari, Ituiutaba, Uberaba, Uberlândia, São João Del Rei, Juiz de Fora, Leopoldina, Visconde do Rio Branco, Varginha, Pouso Alegre, Diamantina e Montes Claros. São 27000 alunos e cerca de 1500 professores. Conservatório Estadual de Música Lorenzo Fernandez Inaugurado em 14 de março de 1961, e atualmente dirigido pela professora Iraceníria Fernandes da Silva, traz no nome homenagem ao maestro e compositor brasileiro Oscar Lorenzo Fernandez, pai da fundadora, a musicista Marina Helena Lorenzo Fernandez Silva. Recém chegada a Montes Claros, proveniente do Rio de janeiro, 1947, dona Marina empolgou-se com a musicalidade do montesclarense. Seu idealismo e dinamismo tornou realidade o Conservatório, estadualizado em 1962, com apoio do então prefeito Simeão Ribeiro Pires. O CELF se firmou no cenário artístico-cultural da cidade e região, sempre promovendo intercâmbio entre escola e comunidade. Realiza concertos, audições, exposições de pintura e artesanato, apresentações de teatro, danças e corais. Hoje, atende aproximadamente 4500 alunos, em Montes Claros e no anexo de Bocaiuva. Polo irradiador de cultura, é considerado o maior conservatório estadual da América Latina. Pois bem, o maior conservatório de música da América Latina recebeu nova sede em 2006, que em apenas um ano de uso apresentou vários problemas na rede elétrica, telefônica, além de problemas estruturais, como rachaduras, quebra de beirais, infiltrações em várias salas, desabamento de tetos... Medidas paliativas foram então tomadas. Posteriormente, com as grandes chuvas de janeiro de 2013, parte do teto do auditório ruiu, danificando rede elétrica, sistema de ar refrigerado, o que levou à sua interdição devido aos graves riscos à comunidade. Ademais, quatro salas de aula foram interditadas pelos engenheiros da SRE – Superintendência Regional de Ensino. Tomaram-se todas as providências cabíveis: laudos técnicos elaborados, planilhas encaminhadas à SEE – Secretaria Estadual de Educação, e nada! Há um ano aguardando por uma solução, a SEE não se pronuncia a respeito. Hasta quando? Como garantir a integridade física e segurança dos alunos neste ano letivo que logo se iniciará? Andas anestesiado, governador? |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 27/12/2013 16:04:36 |
| BH BEATLE WEEK 2013 – O sonho ainda não acabou... Haroldo Tourinho Filho E-mail: haroldo-tourinho@bol.com.br Nos idos dos anos 1960, montávamos em Montes Claros a primeira banda de rock – na época chamava-se conjunto – da cidade: Os Brucutus. Componentes: Ricardo Milo, Hélio Guedes, João Batista Macedo e eu. Algum tempo depois, João Batista (Lelas) deixa a banda por questões logísticas – passamos a morar em Belo Horizonte, ele aqui continuou – e entra o Beto Guedes. Tocávamos em shows, bailes, horas dançantes, rádios, TVs, o que viesse. Em horas dançantes e bailes tocávamos de tudo, sendo que canções dos Beatles compunham 80% do repertório. Em 1966, já em BH, levamos para casa o troféu de segunda banda de rock de Minas Gerais, no celebrado Concurso Nacional da Jovem Guarda. Infelizmente, apenas o primeiro colocado, The Jungle Cats, de BH, participaria da finalíssima em São Paulo. Montes Claros possuía cerca de 36 bandas de rock nos anos de 1960. Febre nacional. No entanto, a grande maioria mal formada e de curta duração, diga-se. Sobressaíam Os Heremitas, focados em The Herman’s Hermits, banda inglesa originária de Manchester, cujo lead vocal, Peter Noone, levava adolescentes ao desmaio. Venderam 70 milhões de discos, capitaneados pelas belíssimas e inesquecíveis canções Listen people, No milk today e My sentimental friend, todas hoje acessíveis no youtube.com; Os Tills, de repertório variado, sem foco específico, tocando um pouco de tudo e muito bem; Os Flintstones, com Titão, Abílio Morais, Ronaldo e Ronildo Almeida, especialistas em Rolling Stones; Eusébio e Irmãos, de repertório variado; Os Bárbaros, banda de Miguel e Fred Mendes, Ricardo Moreira, Yuri Popoff e Aristônio Canela; We The Whats, rock variado, com Aliomar Assis na bateria, Ricardo Mesquita, crooner, e outros; Os Dinossauros, com Juquitão, Saint-Clair Moraise outros; The Wood Face Girls, rock variado, com as garotas Lucinha Teixeira, Celeste Priquitim, Hilda Nascimento e Nair Maurício, e, finalmente, Os Brucutus, cover dos Beatles, que também divulgaram o trabalho de algumas bandas inglesas ainda desconhecidas do grande público daqui, como The Dave Clark Five, The Hollies, Gerry and the Pacemakers, para ficar nestas, e americanas, The Byrds, Chicago Transity Authorithy... Mas nossa paixão eram os Fab Four, realmente quatro fabulosos garotos de Liverpool, Inglaterra, que viraram o planeta de pernas para o ar. Foram o divisor de águas e, depois deles, The Beatles, nada mais seria como antes. Mas o tempo passa, e rápido – voa! Os Beatles acabaram antes dos Brucutus, aqueles em 1969, estes em 1971. O sonho acabara? Não, Lennon estava equivocado. John, Paul, George e Ringo partiram para carreiras solo bem sucedidas – vejam o Paul mandando ver aos 71 anos! – e nós, dos Brucutus, para as universidades e carreiras artísticas. Beto Guedes, o real talento do grupo, enfronhou-se com Lô Borges, Tavinho Moura, Toninho Horta e Milton Nascimento, dentre outros ícones, gravaram o antológico Clube da Esquina e Beto deslanchou sua carreira solo, produzindo álbuns de rara sensibilidade. Ótimo e disciplinado multi-instrumentista, compositor de mão cheia e grande intérprete. Bem, após o fim do conjunto – não falávamos banda – continuamos a tocar esporadicamente, seja nos especiais de fim de ano, sempre no Automóvel Clube, onde começamos, seja nos inesquecíveis natais de Elza e Juca Milo ou em bares de Moc City. Qualquer hora dessas ameaçamos voltar, kkk, porém, infelizmente, sem a presença do Pato Guedes, que precocemente nos deixou. Toda essa sintética introdução/explicação foi necessária para chegarmos ao ponto central desta crônica: o culto aos Beatles. Lançáramos a semente e desejávamos ve-la germinar, se espraiar no solo fecundo da musicalidade de nossos garotos. E não nos decepcionamos, aqui e acolá esteve, está e sempre estará brotando um novo beatlemaníaco: Aggeu Marques, montesclarense, fundador da consagrada banda cover dos Beatles em BH, Hocus Pocus, participante de várias Beatle Weeks em Liverpool; Samuel Lessa, Rodrigo, Diego e Junior, com sua ótima banda Mr. Postman, de Moc; Raphael Milo, Beu Vianna, Marcelo Milo, Maurício Teixeira e Hernane, com a sua Jardim Elétrico; Zureba, Lobão, Danilo Narciso, Henrique Tourinho, Ian e Xexéu Guedes... E, pelo visto, a coisa vai para a terceira geração, pois tivemos a grande notícia – nenhuma surpresa – de que Gael, filho do Rapha Milo, garotinho de apenas 4 anos, já anda rondando a bateria. Seu rítmo levantou as orelhas do pai, professor do nosso conservatório de música, violonista, flautista, compositor e cantor. Rapha faz tudo muito bem. BH BEATLE WEEK De sexta a domingo, 13 a 15 de dezembro deste ano, realizou-se em BH a sexta ou sétima edição da Beatle Week. 25 atrações, entre bandas e artistas apresentaram-se em teatros e casas noturnas da capital: Cine Theatro Brasil Vallour (totalmente reformado), Circus Rock Bar, Lord Pub, Jack Rock Bar, Status Cultur e Arte e Rutger Moto Music Bar. Bandas e artistas não poderiam ser melhores: Anthology – BH –, Beatle Juice – Argentina, levou o primeiro lugar na Beatle Week de lá –, Beatles Machine – Paraná –, Bgirls – quarteto feminino de Americana, SP –, Bluebeetles – Rio, toca frequentemente na Beatle Week de Liverpool –, Direct from The Cavern – Liverpool –, Hey Baldock – BH –, Hocus Pocus – BH –, Letícia Barbarella – carioca, faz releituras dos Beatles com arranjos próprios –, Magical Mystery Band - Montes Claros, MG –, Nelson e os Besouros – RS –, Nowhereband – Chile –, Orquestra Ouro Preto – arranjos orquestrais para clássicos dos Beatles, já se apresentou em Liverpool –, Pocket Beatles – Integrantes do grupo vocal Voz & Cia, apresentaram-se à capella, somente violões –, Revolver – BH, canções da carreira solo de Paul McCartney –, Ringer Star – EUA, Ringer é baterista e sósia do Ringo –, 3 of Us – BH, trio –, Tributo a George Harrison – Gary Gibson, Voz & Cia e Orquestras, o conjunto que fez tributo ao guitarrista dos Beatles foi formado por integrantes dos grupos Yesterdays, Cálix e Hocus Pocus. Tocou ao lado do Voz & Cia e de orquestra formada por instrumentistas da Sinfônica e Filarmônica mineiras, além da Orquestra Ouro Preto. Acompanha também o guitarrista inglês Gary Gibson, considerado o melhor cover de Lennon do mundo, além da incrível semelhança física –, Túnel do Tempo – Rio, a banda carioca foi a primeira brasileira a tocar em Abbey Road, e Vix Beatles – ES –, Magical Mystery Band, que representou Moc na Beatle Week de BH, foi a única do interior do estado a fazê-lo. Portanto, palmas para a meninada, Igor Zureba, lead vocal, Raphael Milo, guitarra base, vocais, Junior Kashimir, guitarra solo, George Duarte, baixo, e Dhiogo Revert, bateria e vocais. *Causou-me espécie a matéria – Liverpool Aqui – assinada por Mariana Peixoto no Estado de Minas de 13.12.2013, dando a Hocus Pocus, de BH, como a mais antiga banda cover dos Beatles de Minas Gerais. Em fevereiro completará 30 anos. Se não me falha a memória, Os Brucutus, de Montes Claros, MG, é um pouco mais antiga... Apresentaram-se, devidamente paramentados, pela primeira vez, no Automóvel Clube desta cidade, em outubro de 1965. Portanto, lá se vão 48 anos! Fotos e crônicas sociais da época estão aí para provar. Certamente, a autora da matéria desconhece o fato, embora Os Brucutus tenham tocado durante três anos consecutivos em BH, seja no auditório da Rádio Mineira, na TV Belo Horizonte, à época afiliada a Globo, e em clubes como Pampulha Iate Clube, Hípica, Minas Tênis e Viajantes, onde foram contratados por um ano para lá levarem o Juventude em Brasa, programa dançante criado no Automóvel Clube de Montes Claros. Fica o registro. |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 25/10/2013 11:14:48 |
| MACHADO, José Corrêa - 80 anos "Não pergunte o que seu país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer por seu país" KENNEDY, John F. JOSÉ CORRÊA MACHADO nasceu em Montes Claros, MG, no dia 28 de outubro de 1933. Faleceu na mesma cidade aos 14 de fevereiro de 1999. Filho caçula do casal José Corrêa Machado e Gabriela Prates Costa, teve como fato marcante na data do nascimento o falecimento do pai, de quem herdou e honrou o nome ao longo de sua trajetória de vida. O pai, advogado, cidadão dos mais ilustres de Montes Claros, líder de diversas iniciativas públicas na sua época, eleito vereador chegou à presidência da Câmara e, quando da revolução de 1930, a prefeito municipal. A mãe, dona Bela, viúva ainda nova, viu-se repentinamente à frente de numerosa prole, assumiu as lides rurais administrando a fazenda Carrapato, propriedade da família, depois a parte que lhe coube por herança, denominada Mangues. Bebela, como a chamavam os íntimos, teve com o marido dez filhos: Múcio, Célia, Dália, Marta, Décio,Terezinha, Ruy, Lúcia, Ernesto e José. Machado viveu infância feliz, sempre a brincar com irmãos, amigos e primos nos quintais da Montes Claros de então ou na fazenda dos Mangues e nas chácaras João Congo e Vargem Grande, dos seus tios Jair Oliveira (dona Sinhá) e Joaquim Costa (dona Elisa), a quem adorava. Adolescente, passou a trabalhar com o cunhado, Antônio Rodrigues (Célia Machado), proprietário da refinada loja de artigos masculinos A Primavera. Dona Bela Costa, com oito filhos para criar (Marta e Ernesto haviam falecido ainda crianças), não podia e não dava moleza. Machado cursou o primário no colégio Imaculada Conceição e o secundário no ginásio Diocesano. Mudou-se para Belo Horizonte e concluiu o científico no colégio Marconi. A faculdade de Arquitetura da Universidade Minas Gerais (UMG), onde colaria grau em 1961, foi o próximo passo. Viagem da turma de formandos aos Estados Unidos coroou merecidamente os anos de estudo. Ainda universitário prestou serviço militar no CPOR - Centro de Preparação de Oficiais da Reserva -, de onde deu baixa com a patente de tenente. Após sete anos de namoro-noivado, aos 14 de julho de 1962 o arquiteto José Corrêa Machado casou-se - catedral de Montes Claros - com Layce Costa Tourinho, graduada em História pela PUC/MG, que passou a se chamar Layce Tourinho Corrêa Machado. O jovem casal residia em Belo Horizonte. Sócio da construtora Casagrande, com sede na capital mineira, juntamente como o irmão Décio Machado e o colega Fajardo Vasconcelos, também arquitetos, cabe assinalar como principais obras da construtora à época o projeto - premiado - da faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia e, também por concurso, o do campus e edificações da Universidade Federal de Viçosa, MG. Machado e Layce mudaram-se para Montes Claros em 1964. Ela relutara em deixar suas aulas de História em colégio de Belo Horizonte, mas ele lhe disse que só ficariam na cidade até o término da construção do Frigonorte, obra de vulto que necessitaria de permanente acompanhamento. Em Montes Claros permaneceriam por longos anos - ele a influir decisivamente no desenvolvimento do município; ela, por seu lado, a ministrar História Contemporânea, desta feita na faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da antiga FUNM (Fundação Universitária do Norte de Minas), da qual fora uma das fundadoras. Transferiu-se depois para a Unimontes, concluiu mestrado em Belo Horizonte e aposentou-se. Mora lá. Surgiram outros projetos arquitetônicos que levam a assinatura da construtora Casagrande em Montes Claros e região. A relembrar: Cortenorte (curtume), Passonorte (calçados), Glycenorte (produtos químicos), Tok (vestuário), Coteminas (têxtil), Têxtil Paculdino, SIOM (instrumentos de ótica e mecânica), Frigodias (frigorífico em Janauba), edifício da CEMIG, igreja matriz de Bocaiuva, Centro de Educação e Cultura Hermes de Paula, edifício da faculdade de Economia (FADEC) da Unimontes, colégio Imaculada Conceição, clube da Sociedade Rural, Credinor, edifício Herlindo Silveira (rua dr. Santos), sede da loja maçônica Deus e Liberdade (av. Mestra Fininha). Algumas das residências mais elegantes de Montes Claros foram igualmente assinadas pela Casagrande ou pelo próprio Machado. Como assessor - não remunerado - do prefeito Antônio Lafetá Rebelo, Machado elaborou o projeto e acompanhou - como sempre - a construção do Parque Municipal Milton Prates. Participou efetivamente da comissão nomeada pelo prefeito para a elaboração do Plano Diretor do município, nascendo daí o projeto para a construção da av. dep. Esteves Rodrigues (Sanitária), ideia dele e do engenheiro Ivanildo Fragoso. Anos mais tarde, já como secretário de Planejamento do segundo governo Jairo Ataíde Vieira, viria a projetar a avenida que hoje leva o seu nome. Machado teve intensa participação em várias áreas da vida do município de Montes Claros. Foi membro do Lyons clube, fundador e presidente da Pavisan, fundador e primeiro presidente da Associação Regional de Engenheiros, Arquitetos e Agronômos (AREA), fundador e presidente da TV Montes Claros, fundador da Sociedade Industrial de Ótica e Mecânica (SIOM), juntamente com o irmão Décio Machado e o francês Marc Oliffson, Vice e presidente da Sociedade Rural de Montes Claros, presidente do conselho administrativo da Sociedade Comercial e Industrial de Montes Claros (ACI), fundador e vice-presidente da Fundação Educacional de Montes Claros (FEMC - Escola Técnica), membro do Conselho Diretor da Fundação Universitária do Norte de Minas (FUNM) e presidente da Cooperativa Agropecuária Regional de Montes Claros (COOPAGRO). Eleito vereador em 1988 - terceiro mais votado no município -, José Corrêa Machado teve atuação brilhante na oposição ao governo Luís Tadeu Leite e como vice-presidente da constituinte da Lei Orgânica do Município, promulgada a 01 de maio de 1990. Não logrou êxito na reeleição, em 1992. Convidado pelo prefeito reeleito em 1996 , Jairo Ataíde Vieira, a assumir a secretaria municipal de Planejamento, veio a falecer no exercício do cargo, sempre prestando serviço à sua amada cidade natal. Machado e Layce tiveram os seguintes filhos: Andréa, casada com Bruno Andrade; filhos: Victor e Pedro. Igor, solteiro. Rogério, casado com Juliana Wanderley Alcântara; filhos: Camila e Carolina. Adriana, casada com Lúcio Medeiros; filhos: Luiza e Felipe. Juliana, casada com Tarcísio Vilhena; filhos: Sofia e Lucas. Machado apreciava as artes em geral e, depois de contemplar os Velázquez do museu do Prado em Madri, este tornou-se seu pintor predileto. Gostava de balé e música erudita, Bach principalmente, e no campo da música popular preferia os americanos Ray Charles, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, além das big bands. Cinéfilo, não lhe importava o gênero, desde que o filme fosse bom. Lia muito, geralmente textos mais leves, como romances. Gostava igualmente de festas e carnaval - chegou a se apaixonar, como telespectador, com a mulata (Valéria Valenssa?) ícone da Globo... Não foi desportista, mas, a conselho do seu geriatra de Belo Horizonte, passou a andar até o Parque Municipal, distante 4km de sua residência. Assistia às Copas do Mundo e delirava com Olimpíadas. Gourmet e gourmand de primeira linha, Machado bebia moderadamente, de preferência uísque escocês e vinho, se branco da Alsácia, melhor ainda. Ao anoitecer dos dias 25 de dezembro o champanhe francês era sagrado, lembra seu filho Rogério. À mesa, gostava de comer bem, reclamava da cozinha fosse em que restaurante fosse, ensinava como fazer isso e aquilo e se duvidassem adentrava a cozinha e preparava o prato. Novamente Rogério, que tudo assimilava e, na primeira oportunidade, fez curso de culinária no Rio Grande do Sul, 600 horas-aula, com foco em cozinha italiana, tornando-se Chef. Amigo dos amigos, exemplo de cidadão, pai enérgico, porém, amoroso e emotivo, Machado deixou saudades e uma extensa folha de serviços prestados à comunidade, que, com o seu relativamente precoce encantamento - aos 65 anos - ficou com uma pergunta no ar: seria o próximo prefeito?... AGRADECIMENTOS: Andréa Machado Andrade, Eduardo Machado Tupinambá, Hélio Rossio Ogando, Henrique Costa Tourinho, Maria Inês Macielo de Paula, Raymundo Costa Tourinho, Rogério Tourinho Corrêa Machado e Virgínia Abreu de Paula, sem os quais ser-me-ia impossível concluir esta ligeira biografia. |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 10/10/2013 14:19:34 |
| Doutor Loyola (Cura à distância) Recomendações ao dr. Loyola. Todos os dias rezo por ele. Assim terminavam,invariavelmente, as missivas que minha avó, Luíza (Lulu) Freire Tourinho, com sua caligrafia impecável, a bico de pena, endereçava semanalmente a meu pai. Invariáveis, também, os seus versinhos em cada carta. Eram mais ou menos assim: "Tenho seis filhos queridos Jóias do meu coração Todos são amados meus Por nenhum tenho predileção." Em uma de nossas viagens de férias a Salvador, vovó Lulu disse ao filho, médico, que estava com alguma moléstia estomacal. Consultara dois especialistas e não vinha se dando bem com os medicamentos prescritos. Papai, que lá estando sempre lhe tomava a tensão - 12 por 8, sempre - e temperatura, pois nada mais havia a fazer, leu as receitas dos colegas baianos e nada encontrou de duvidoso. Parecia-lhe a medicação correta para o que fora diagnosticado. Não me recordo se o mal de que padecia minha amada avó provinha do estômago, esôfago, intestino grosso ou delgado, ou mesmo do fígado ou pâncreas. Meu pai disse então à mãe que pouco entendia daquele assunto. Pediu-lhe exames e radiografias e assegurou-lhe que, de volta a Montes Claros, consultaria um colega bamba em gastroenterologia. O Loyola. E assim foi. Por dois anos, dr. Loyola foi o médico de minha avó. À distância! Papai servia de intermediário entre os dois. Ao cabo desse tempo, eis vovó Lulu totalmente curada do mal que a afligia. A partir daí, era Jesus Cristo no Céu e dr. Loyola na Terra. NOTA: Dona Luíza viria a falecer duas décadas mais tarde aos 97 anos. Causa mortis: ruptura dos capilares, final comum em tal idade. Jamais fora operada, nenhuma enfermidade digna de registro exceto a acima citada. Do seu casamento com Fernando da Costa Tourinho, juiz de direito, restam dois dos seus seis filhos, todos homens: Herdival, 92, e o caçula, Fernando, 86. Ainda chego lá? Certamente... |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 20/6/2013 15:35:54 |
| NATAL E MORTE Em Jequietaí, tempos idos, natal era Natal. Opulento. Ainda vivia o coronel Justiniano Feitosa, misto de gente e ditador, patriarca que trazia sob o tacão a família, agregados e habitantes da região. Lembro-me bem da sua estampa, cuspindo nas pontas dos dedos ao passar devagarinho notas de conto-de-réis. Num daqueles inesquecíveis natais comprou-me quase toda a mercadoria que levara: colchas adamascadas, toalhas de mesa da Madeira, jogos de cama de linho belga... Tudo para o enxoval da única filha, Magdalena, sem noivo anunciado e beirando os quarenta. Certa ocasião, pouco faltou para que seus pais me fisgassem. Não fosse Magdalena feia de doer, um bucho, esta história seria outra e eu certamente não a contaria. Bem, os velhos tudo fizeram para que eu abocanhasse a isca. Dona Rita não media mãos na cozinha e o coronel, com seu irritante timbre de voz, parafônico, fez-me um minucioso inventário de seus inumeráveis bens: móveis, imóveis e semoventes. Ainda hoje não sei como escapuli do anzol. Pesadelos, nos quais Magdalena me possuía à força, assaltavam-me as noites antes tão bem dormidas num dos arejados quartos do sobrado da fazenda. Sim, era ali que me hospedava quando das minhas inúmeras permanências em Jequietaí, nos meus saudosos tempos de caixeiro-viajante. Ao cabo de toda a turbulência decisória pela qual passei, saiu vencedora a razão: declinei do tentador assédio sem deixar sequelas, minha preocupação maior enquanto durou aquele episódio de sedução. Devo, porém, confessar aqui pensamentos nada santos que me rondavam a cabeça naqueles dias. Quando Magdalena falava em Paris como o local predileto para a sua lua-de-mel, imaginava-me atirando-a da torre Eiffel... Cataratas do Niágara? Ocorria-me idêntica intenção. E se o suicídio dela não vingasse, raciocinava, a solução final caberia ao arsênico, ministrado homeopaticamente... Em resumo: não tive a coragem necessária para enriquecer. Com as chuvas chegou a Jequietaí o primeiro médico-residente. Recepcionaram-no com banda de música, foguetório, banquete, discursos de boas-vindas e um ajuizado bate-coxas no sobrado dos Feitosa. Esperto, deveras esperto aquele dr. Gumercino Arantes. Seis meses depois estava casado com Magdalena. O dote? Metade do patrimônio do coronel, tudo exarado em cartório. Não me foi possível comparecer às bodas. O convite em letras de prata alcançou-me na capital quando os nubentes já se achavam a caminho da Europa, onde permaneceriam por longa temporada, aproveitando-a o doutorzinho para especializar-se em Bruxelas. Como de hábito, no Natal seguinte voltei a Jequietaí. As obras do casarão do dr. Gumercino, bem mais amplo que o do sogro, estavam em andamento. Só se falava disso nas esquinas. Magdalena desfilava pelas poeirentas vielas do povoado a penúltima moda de Paris. Desta feita, além do costumeiro presente para dona Rita, levei um aparelho de chá, chinês, para os nubentes. Magadalena, sem mesmo estar grávida, adquiriu-me Dois enxovais completos para bebês, um rosa, outro azul. No almoço-banquete daquele 25 de dezembro, de longa data oferecido pelos Feitosa e ao qual afluíam a parentela, amigos, políticos, o clero e autoridades locais, eu observava distraidamente o novo par. Do rosto de Magadalena as espinhas haviam desaparecido quase por completo... Remédios do marido ou cremes de Paris? Dr. Gumercino engordara ainda mais, porém pareceu-me ter a cara de quem vinha comendo e não gostando... "Ele é assim", disse-me o coronel Justiniano, "fechado, como convém a um homem na sua posição...” Soube ali que, acabada a casa, dr. Gumercino iniciaria a construção de um hospital. À mesa, falava-se abertamente em seu nome para futuro prefeito municipal, sucedendo ao coronel, que sempre fizera o sucessor, reassumindo posteriormente o cargo. Fazia também todas as câmaras de vereadores. Jamais alguém se opôs às suas vontades em Jequietaí. Que o diga o Partido Comunista, ao procurar ali estabelecer-se após a Grande Guerra: todos os seus membros - uma meia dúzia - foram chicoteados em praça pública... Servida a sobremesa, me ardia na alma uma gastura desconhecida que só pode atender por um nome: inveja! Logo mais à noite não foram poucos os que retornaram ao sobrado para dar fim às sobras do almoço. Esquivaram-se o pároco, devido a ofícios religiosos a celebrar, o juiz de Paz, que saíra cambaleante às três da tarde, e alguns poucos mais. Precisamente as 22:00 dona Magdalena Feitosa Arantes principiou a passar mal. De nada lhe valeram demonstrações terapêuticas do marido, como tapas nas costas e dedos enfiados goela abaixo. Ela viria a morrer entalada com uma tira de peito de peru. Assistindo a toda aquela correria, só me imaginei lançando-me ao rio mais próximo com pedras atadas aos pés. Se arrependimento matasse... |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 27/5/2013 16:33:53 |
| CORI "Hoje, encantou um passarinho. O menino Cori bateu asas. Voou para o céu, para o seu lugar. Era cândido demais para este mundo. Está em seu poleiro, nas nuvens. Ficaram suas canções nas vozes e nas almas dos nossos jovens. Fomos amigos por toda uma infância. Triste, eu envelheci." RIBEIRO, Ucho. CORIOLANO GONZAGA NETO (11.10.1960 -14.05.2013), recebeu este nome de batismo em homenagem ao avô, velho comerciante de Montes Claros, um dos pioneiros no ramo óptico. Cori, como chamado por todos, há menos de um mês nos deixou e deixou muitas saudades. Não virou estrela, já o era, pois considerado um dos melhores compositores do nosso Geraes. Adorava humanos e animais e, além de nós, Bela, sua gatinha de estimação, deve estar inconsolável. Cori não apenas compunha pérolas de canções, também as tocava ao violão e guitarra e as interpretava como ninguém. Além de músico, possuía rara habilidade com as mãos, talvez originada do seu trabalho quando jovem na ótica dos Gonzagas. Seus móveis, móbiles e jóias artesanais testemunham essa aptidão, basta ve-los. Cori cresceu na rua Irmã Beata, ali atrás da Santa Casa, onde malinava com os Ribeiros, Juquita e Ruy Queiroz, os filhos do Cel. Georgino de Souza, o batera e baixista Dimas, dentre outros. Passava férias no distrito de Miralta, local de nascimento da mãe, a bondosa e simpática dona Clarice, onde o boa praça Toninho Gonzaga fora buscá-la para casar. Ali convivia com violeiros e cantores do folclore norte-mineiro e músicas sertanejas. Esta foi a sua primeira influência musical. Depois passaria a curtir MPB, o pop inglês, o folk americano, e delirar com a música mineira do clube da esquina. Já violonista, em uma ida a Belo Horizonte com o amigo Biola assistiu, no DCE - Diretório Central dos Estudantes - da UFMG, a uma apresentação do grupo Raízes, fundado em São Paulo, 1973, por Charles Boa Vista, Ângela, mulher deste, e Tino Gomes. Cori deslumbrou-se, era o que procurava. Atores profissionais de teatro, o trio, nos intervalos dos ensaios, em hotéis e bares, distraía a troupe com suas danças, sapateados e canções. Os colegas incentivaram a divulgação e documentação do trabalho e daí ao primeiro LP foi um pulo, nasceu o comemorado LP Grupo Raízes, gravado em 1974. O conjunto viria a se apresentar em todo o Brasil, notamente no circuito universitário do estado de São Paulo, auditórios do norte-nordeste e em temporada no teatro Opinião, Rio de Janeiro. O Raízes sobreviveu até 1982, tendo Cori Gonzaga dele participado nos dois, três últimos anos, quando o grupo esteve baseado em um sítio próximo a Sabará, cidade vizinha a Belo Horizonte. A nova formação incluía Zé Henrique - Penico, já falecido -, José Dias, atualmente diretor da Ordem dos Músicos do Brasil, e Cori, então com dezesseis anos. Além da participação nos shows, Cori gravou como instrumentista e vocalista o último LP do grupo, Olhe bem as montanhas, canção título de Boa Vista. Assina também duas canções do álbum, A vida do violeiro e Se eu pudesse voltar pra roça. Findo o grupo, Cori não parou de compor. São inúmeras suas apresentações e composições, com o risco de grande parte destas se perder, uma vez que não foram escritas em partitura. A salvá-las do esquecimento, algumas - poucas - gravações e a memória de músicos amigos e fãs. Vencedor de festivais, dos três ou quatro dos quais participou em Montes Claros - Festivais do Pequi -, levou o primeiro lugar em um deles, com a canção (da qual não lembro o título nem a secretaria de Cultura soube informar...), e o terceiro por ocasião do sesquicentenário da cidade, 2007, defendendo Princesa do Norte*, canção cuja letra é de nossa autoria, com muita honra por sinal. Figura profundamente ecológica, Cori adorava matas, cursos d`água, cachoeiras e, não menos, corrutelas, com suas vendas e violeiros. E comida pesada, condimentada - foi cozinheiro de mão cheia, um curraleiro de coração. Mesmo sem esquecer a Música, nos últimos anos Cori vinha se ocupando da administração de uma pousada na antiga residência da família. Impressionava a todos a sua extrema dedicação aos enfermos que ali se hospedavam com vistas a exames e tratamentos na Santa Casa. Eram crianças e jovens, velhos em fase quase terminal, que ele acudia, consolava, acarinhava, divertia, com sua sensibilidade e boa vontade inexcedíveis. Como bem disse o seu amigo Ucho na epígrafe, todos nós envelhecemos com o seu encantamento. Do seu casamento com Cláudia Pompéu, nosso grande Cori Gonzaga deixa dois filhos, Ian e Daniel. |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 13/5/2013 13:27:24 |
| ALGUMAS DE MARÃO... MÁRIO RIBEIRO DA SILVEIRA nasceu em Montes Claros, aos 23 de setembro de 1924. Seus pais, Reginaldo Ribeiro dos Santos e Josefina Silveira Ribeiro. Em homenagem à mulher, Reginaldo inverteu o sobrenome do filho. O pai viria a falecer dois anos depois, deixando a cargo da mestra Fininha, que voltou a residir com os genitores, a criação dos seus dois rebentos, Darcy e Mário. Segundo depoimento de um contemporâneo, "Mário - “Mário Bode” - foi um menino traquinas, sempre encarapitado numa bicicleta velha, pegando biscates na estação ferroviária e no hotel São José, azucrinando a vida da austera Mestra Fininha e de seu tio mais velho, Otávio Silveira". Conheci o dr. Mário de menino, de festinhas de aniversários das famílias. Simpático, sempre brincalhão. Entretanto, aos 7 ou 8 anos pude avaliá-lo melhor. Surgiram-me umas manchas na pele e meu pai mandou-me ao consultório do colega. Ficava ali na dr. Santos, ao lado da casa de sua mãe. Esperei um pouco e logo ele chegou. "O que faz aqui?" Eu, de calças curtas, apontei para as pernas: "Estou com essas manchas..." E ele, mão no queixo, já diagnosticando: "Humm, você nada na praça de esportes?" Passamos à sala de exames. Através de uma lente enorme, presa a um cabinho de madeira, ele olhou as manchas, não sei o que nelas viu, apanhou o bloco de receitas. "Diz à sua mãe pra comprar o que vai aqui." Deu-me uma pomada ou loção amostra grátis para friccionar sobre as manchas após os banhos, ah, por sete dias!, e me despachou. Adorei-o como médico: não me havia dado injeção nem enfiado o termômetro no cuzito, prática francesa ainda adotada por alguns pediatras da época. Marão cursou o primário no Grupo Escolar Gonçalves Chaves, onde a mãe lecionava, o ginasial no Instituto Norte Mineiro de Educação, iniciou o científico no Colégio Marconi, em Belo Horizonte, e concluiu o curso no Instituto Metodista Granbery, em Juiz de Fora. Diplomou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade Minas Gerais, turma de 1950. Aluno brilhante, trabalhou e estagiou em laboratórios, clínicas médicas (dermatologia, obstetrícia, hematologia, cirurgia, cardiologia, leprologia, saúde pública...) e pronto-socorros. Foi monitor da cadeira de Anatomia Humana durante o curso. Simultaneamente, participou de vários congressos médicos – obtendo o primeiro lugar em alguns –, seminários e debates científicos. Representou diversas vezes a faculdade em congressos da UNE e UEE – União Nacional e Estadual dos Estudantes. Confidenciou-me minha amiga Jacy: "Na faculdade, era conhecido como Mário "Comunista". Seus colegas de UMG e de república, durante toda a vida, o chamaram assim.” Quem diria, Marão, comunista de carteirinha? Era de mandar telegrama congratulatório para Stalin no seu aniversário: "Parabéns, Camarada Stalin, nosso líder e Chefe Supremo!". Mário recebeu não poucos prêmios pelos trabalhos científicos publicados e, coroando os estudos, através de concurso, foi interno residente da Santa Casa de Belo Horizonte. Anel no dedo, especializou-se em dermatologia no Rio de Janeiro e aí começam algumas das suas. Flanava com Darcy pela Av. Rio Branco quando disse a este: "Vou para Montes Claros." O irmão o corrigiu: "Você vai a Montes Claros..." Mário retrucou: "Eu vou para, porque vou pra ficar!" Enamorado por Maria Jacy, nascida em Pedra Azul, MG, aluna do colégio Sacré-Coeur em Belo Horizonte, com quem viria a se casar, em 1951, tiveram os seguintes filhos, pela ordem: Pat, Fred, Ucho, Marquim, Mônica, Paulim, Marcinha e Bertha. Ganhou Montes Claros com a vinda e permanência de Marão. Não há coisa aqui que não tenha o seu dedo. Construção da praça Cel. Ribeiro, 1956, diretor do Montes Claros Tênis Clube (praça de esportes) e construtor da sua sede social e ginásio esportivo, diretor e presidente do Ateneu, idealizador do primeiro edifício com elevador (Ciosa), do Automóvel Clube (primeiro presidente), um dos fundadores da faculdade de Medicina, Famed, seu professor titular e primeiro diretor. Mário idealizou e implantou o crédito educativo, copiado em todo o país, e publicou "Médicos para o Brasil". Foi paraninfo de inúmeras turmas de formandos de escolas locais, patrono do Diretório Acadêmico da escola de medicina de Montes Claros e da sua primeira turma de formandos. Educador nato, quando assessor da Casa Civil do governo João Goulart levantou verbas para prefeituras e escolas de Montes Claros e norte de minas , ambulância para a Santa Casa e outros benefícios. Como empresário e associado, chegou a possuir quatorze salas de cinema na região, um curtume e, posteriormente, uma fazenda no município de Itacarambi, às margens do São Francisco. Deu à gleba o nome de Ipueira, devido às peculiaridades do local. Sobre a sua experiência como médico-fazendeiro, relatou o próprio: "Normalmente, de 15 em 15 dias, saímos de Montes Claros com a caminhonete cheia de víveres, de remédios para todas as mazelas, 10 litros de vinho e 200 pães. Enquanto minha mulher anda a cavalo, fiscaliza cercas, plantações, faz acertos com o encarregado, determina isso e aquilo – ela é quem entende de fazenda -, eu faço a medicina mais gratificante de minha vida profissional. Atendo a cablocada amiga e lhe sirvo pão e vinho, como Marcelino. As doenças são sempre as mesmas: verminoses, anemias, chagas, parasitoses cutâneas, gripe, ou algum acidente de trabalho. Ouço suas queixas, dou-lhes os remédios indicados – amostras que recebo de laboratórios e de colegas." Como político, em 1958 Marão é eleito à Câmara Municipal. Também eleito, prefeito, o seu primo Simeão Ribeiro Pires. Em 1962, pelo Partido Republicano (PR) é candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por João Valle Maurício. Em partido político oposto – PTN – o imbatível Pedro Santos, então vice de Simeão e vitorioso no pleito. Cassado pelo golpe militar de 1964, Marão foi preso várias vezes e respondeu a IPMs que nada apuraram contra a sua pessoa**. Perdeu os direitos políticos, cargos públicos e acesso a bancos oficiais. Mas continuou influindo – e como! – na política de Montes Claros. Em 1979, anistiado por Decreto Federal, vai à luta a céu aberto. Eleito vice-prefeito na chapa encabeçada pelo jovem Luís Tadeu Leite, MDB, em 1981, suas atribuições incluíam a gestão das pastas da Saúde e Educação. Realizou frutífero trabalho, especialmente na saúde, quando se destacou como um dos idealizadores nacionais do SUS. Em 1988 é eleito prefeito e suas maiores realizações continuaram sendo nas referidas áreas. Construtor de escolas, acabou de vez com o velho problema da procura por vagas nas escolas públicas municipais – estas passaram a exceder à demanda. Na sua gestão – quatro anos – o número de alunos matriculados nesses educandários passou de 5.235 para 22.150... Mário encerrou sua vida pública como secretário de estado do Trabalho e Ação Social, governo Hélio Garcia, 1986. Em 7 de dezembro de 1999 a cidade assistiu, consternada, ao seu desaparecimento, ocorrido na Santa Casa de Misericórdia de Montes Claros. Embora sendo homem de forte personalidade, não sabia bem o que fazer com o seu visual, ou look, como queiram. Ao longo do tempo apresentou-se com vários perfis: ora cabelos meio compridos, em seguida corte militar ou outro; ora barbado, depois escanhoado. No trajar, quando não estava de branco, médico que era, adotou por uma época o slack, mas geralmente vestia-se sem afetação. Odiava sapatos com cadarços e gravata. Verdadeiro suplício era ler um jornal após Marão. Ele simplesmente o desfolhava, lia o que lhe interessava e atirava as páginas no chão – "jornal pesa", dizia. Quem se dispusesse a le-lo, que se acocorasse ao lado do monturo, recolhesse e reordenasse os cadernos, aff! Mário Ribeiro tinha a exata dimensão do poder. "Tá vendo todos esses puxa-sacos? Pois bem, quando eu sair da prefeitura sequer me cumprimentarão." Quando enfrentou a primeira greve de servidores, saiu andando pela prefeitura às moscas, espiando sala por sala. Na rua, centenas de manifestantes. Passando por uma das salas, deu com uma moça na máquina de escrever. "O que está fazendo aqui, minha filha? Tá todo mundo lá embaixo, vai pra greve, o direito é seu..." Outra característica sua era a pontualidade. Chegava à prefeitura às 8h da manhã, saía ao meio-dia para o almoço, retornava às 14h e, após as 17h, impaciente, consultava repetidamente o relógio. Às 18h, no prego, tomava o elevador. Ia ao encontro dos amigos no seu bar predileto, Quintal. Ali, na roda que liderava, comentava-se de tudo. Ele sempre encomendava aos gravatinhas – assim chamava os garçons – o de comer variado. Aos companheiros que somente bebiam, advertia: "Quem bebe sem comer morre cedo." Dito e certo, vários deles se ausentaram para sempre das happy-hours. Colhi algumas mais de Marão da bela crônica escrita por Pat pouco tempo após o encantamento do pai. Vamos a elas: - Podia ser melhor... - O importante não é ser honesto, tem que ser e parecer ser honesto (lera sobre César...). - Baixa, espírito de dona Marina! (quando se falava mal de alguém - ela jamais fala). - Se tiver de falar de alguém, fale bem. - Não julgue pelos defeitos, julgue pelas qualidades. - Tente entender: coloque-se no lugar dele... - Temos de ser amigos e solidários é na adversidade. - Deus dá pão a quem tem fome e fome de justiça a quem tem pão. - Tá na hora da bóia! - Só podem comer depois de rezar (nas refeições em família). - Ruim com elas, pior sem elas. A estabilidade do casamento está na assessoria; empregada tem sempre razão. - Toda viúva é feliz. Todo viúvo é ridículo. - Até hoje não me esqueço: quando era menino, toda mulher que fumava e bebia era rapariga. - A coisa mais sensível no homem não é o sexo, é o bolso. - Torço para dois times: para o Atlético e contra o Cruzeiro. - Tenho nojo de politicagem. - Não se come a carne onde se ganha o pão. - O trem só chega na estação pelo trilho. - Passarinho não anda com gato. - Só vou se tiver gelo (pro seu uisquinho, quando convidado para uma casa mais afastada do centro). - Êh! Festas de agosto! (mesa farta). - Estudar é a coisa mais difícil que existe: tudo chama para fazer o contrário. - Quando um amigo me diz que o filho quer ser artista, eu já começo a rezar por ele. - Quer ver seu filho não passar no vestibular? Dê-lhe um violão. - A nossa arma é o voto. Seu título eleitoral é uma metralhadora! (em comícios) - Honesto vota em honesto. O resto vota no resto. - Quem compra votos vende o seu (não se lembrava do autor). - O dinheiro do povo é sagrado. - Inimigos, a gente tem de anestesiar. - Se a gente não aguenta, quem vai aguentar? - Cuidado! A carne é fraca. - O maior barbeiro do Brasil sou eu (como motorista). - Multidão é um amontoado de ninguém. Pra aplaudir ou vaiar é daqui pra ali. - Tenho duas alegrias na vida: o dia que Darcy chega e o dia em que vai (amiúde o irmão lhe cobrava fazimentos...). - O melhor negócio é prestar serviço. - Rico é aquele que gasta menos do que ganha. - Tenho duas alegrias na vida: o dia que Darcy chega e o dia em que vai (o irmão cobrava-lhe o fazimento de coisas...). - Maria não conhece marido mais liberal do que eu. - Se tivesse de me casar de novo, casaria mil vezes com Maria; ela, "nenhuma" comigo. - Jesus de Nazaré, me dê fé, tire este enfermeiro do meu pé. O cidadão do mundo, Mário Ribeiro da Silveira, foi laureado, por serviços prestados à comunidade, com significativas medalhas, dentre as quais duas da Inconfidência Mineira, a Santos Dumont e a da Faculdade de Medicina. A Academia Mineira de Medicina outorgou-lhe o diploma de Mérito Médico. Em 1994, foi convidado para proferir palestra sobre o tema “Educação e Saúde no Brasil: Políticas e Práticas” no Instituto de Educação da Universidade de Londres. E, em 1997, recebeu a Medalha de Ouro de Montes Claros. Bem, se é que já posso encerrar, finalizo parafraseando a autora francesa Marguerite Yourcenar, em Memórias de Adriano: A mente de Marão assemelhava-se a um vasto castelo que ao proprietário não foi possível mobiliar por inteiro. * Agradeço ao dr. Hermes de Paula pelo seu livro "A medicina dos médicos & a outra..." Imprensa Universitária UFMG, 1982, e a Patrícia Ribeiro Barbosa pela crônica, o que contribuiu para o avivamento de minha memória. ** Para maior complementação deste texto, recomendo, vivamente, a leitura do Documento nº 018/116 do Serviço Nacional de Informações, SNI, sobre as atividades de Marão como "ferrenho" comunista. Para tal, acesse o sítio www.montesclaros.com , vá ao menu > Colunistas > Ucho Ribeiro. |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 5/4/2013 12:48:21 |
| COISAS E CAUSOS DE GODOFREDO... Godofredo Guedes, dentre outras façanhas cometidas, pintou, aos 16 anos, os afrescos do teto da igreja da Lapa, BA. Afeiçoado de igual forma à música, aprendeu a ler e escrever partituras graças às cartilhas publicadas em sua época. Eu, mesmo com professora em tempo integral, desisti de aprender a ler e muito menos a escrever música. Violão, Godô já tocava de menino, embora o sonho fosse montar uma banda em sua pequena cidade natal, Riacho de Santana, também na Bahia. Esse desejo foi acentuado quando vivenciou a apresentação de uma euterpe de Salvador que teria ido a algum festejo oficial do município. Ele, que jamais vira um fagote ou clarineta, por esta apaixonou-se , pediu licença ao dono do instrumento, traçou-lhe a cópia exata em caderno e, semanas depois, aprendia a dominar a sua clarineta, sim, sua, pois feita por ele, com ébano da África e teclas, sapatilhas e palhetas mandadas vir do Rio de Janeiro. Montou então sua banda, para a qual compunha valsinhas e dobrados, com o irmão Pimpinha no banjo e outros amigos nos metais e percussão. Como pintor, elaborava algumas das tintas utilizadas na profissão. Em tempo: em Montes Claros fabricou um piano. Não dispondo de fundição, o chassi veio de São Paulo, bem como os pedais. Móvel e peças - teclas, martelos, cordas - manufaturados na oficina da rua Rui Barbosa. Estas últimas, as cordas, enroladas em bordão de aço numa máquina por ele criada e acionada a pedal de bicicleta. Zeca, seu filho, o encarregado de enrolá-las, uma a uma... Depois o mestre conferia o serviço, batendo com uma varinha nas cordas esticadas para experimentar-lhes a tensão. Ah, sim, inventou também um instrumento, semelhante a uma viola, ao qual denominou pentacórdio por dispor de cinco cordas. Compositor de inegável dom, caiu de amores por uma donzela, Beja, e, do alto das barrancas do São Francisco compôs ao violão, para ela, algumas de suas mais belas canções, dentre as quais a sublime Cantar. Esse caso de amor iria mudar a sua sina. Impedida pelos pais de namorar o não-tão-boêmio-assim músico e pintor, casa-se Beja com outro pretendente. Naquele tempo casava-se cedo e aos 21 Godofredo encontrou um novo amor, Júlia, com quem logo contraiu matrimônio. Mas, aí, não raras vezes trágica, a intervenção do destino: Beja enviuva alguns meses após o casamento. Godofredo, ja comprometido, não podia sequer tentar reatar a antiga paixão. Solução: mudar de cidade, no caso Monte Azul, MG. Beja, nunca mais a viu. Soube, anos depois, através de parentes, da sua mudança para São Paulo... Em Monte Azul, enquanto não lhe eram reconhecidas as artes de músico e pintor, emprega-se em farmácia de um parente. Aprende francês, em cartilhas, por conta do ofício: toda a farmacopeia de então era escrita na língua de Balzac. Fica ali pouco tempo. Em 1935/36, dois filhos a tiracolo - Terezinha e Zeca - muda-se com Júlia para Montes Claros, onde aluga casa na praça da Matriz. Na Princesa do Norte a vida passa a lhe sorrir mais docemente. Logo corre a notícia de um retratista na cidade e ele começa a pintar figuras locais. Além de suas telas clássicas, paisagens, pinta de tudo: letreiros em veículos, faixas, cartazes, placas de estabelecimentos comerciais. A registrar, sua caligrafia impecável, bonita de se ver. E não descuida da música: compõe, conserta instrumentos, afina pianos... Saxofonista papo amarelo, fundou conjunto musical de jazz que se apresentava no clube Montes Claros e no cassino Minas Gerais. Atacava de clarineta e sax nesse quinteto, idealizando uma big band à Glenn Miller, sonho não materializado por absoluta falta de talentos locais. Dona Júlia preocupava-se com as noitadas do marido no cassino. Não que Godô fosse chegado à bebida, mas temerosa do que lhe pudesse vir a acontecer, pois, volta e meia, tiros ecoavam no salão. Em um desses tiroteios, nosso herói fora obrigado a saltar para detrás de um piano. Das putas que pululavam no local, Julinha não ciumava. Do seu quarto de dormir ouvia a clarineta ou o sax do marido a pleno vapor. Se estava tocando não podia estar fazendo outra coisa, não é mesmo? E assim que findava o expediente do cassino, digamos assim, tinha o marido de volta a casa. Dos Guedes eu só conhecia a logomarca, GG, com a qual Godofredo assinava seus trabalhos. Aos 13/14 anos fiz amizade com Patão (Hélio) e Zeca (José), em Montes Claros e, quando fui estudar em Belo Horizonte, vim a conhecer Beto (Alberto), Godofredo, Júlia e os outros filhos. O casal mudara-se para a capital havia uns quatro anos. A família passou alguns apertos dada à precipitação da mudança, mas logo as encomendas foram surgindo e os Guedes se estabilizaram. Godô mantinha ateliê - que nomeava oficina - na rua Bernardo Guimarães, pouco abaixo da praça da Liberdade. A destacar em suas obras na capital do estado, o grandioso trabalho de restauração dos afrescos do teto da secretaria da Agricultura, que lhe rendeu e a Patão, seu ajudante, uns bons cobres. Quando ainda em Montes Claros, Godofredo foi ao Rio de Janeiro em busca de reconhecimento ao seu talento. Partituras na maleta. O máximo que conseguiu foi se apresentar com músicos de estúdio em programa vespertino da Rádio Nacional. Seu objetivo era outro: gravar um disco. Ari Barroso, diretor artístico da emissora, músico e compositor de renome (vide Aquarela do Brasil), embaçou-lhe o sonho: propôs simplesmente comprar, por dez réis-de-mel-coado, as músicas do artista. Desnecessário dizer da indignação de Godofredo e, até posso afirmar, talvez seja Ari o único humano de quem ele guardava mágoa. Sexo-agenário, Godô deu para namorador, ou melhor, galanteador. Nas feirinhas de arte, tanto em Beagá como em Moc, onde voltou a residir, paparicava as moçoilas, segurava-lhes as mãos nas suas, pregava-lhes bicotas nas bochechas. "Gostei muito desse quadro", dizia uma delas. "Realmente é um trabalho sui generis (ou fora de série)", respondia sempre a elogios do gênero. "Quer que eu lhe retrate, meu bem? Passe na oficina, não precisa posar, leve uma foto, faço-lhe um precinho camarada..." Fui testemunha ocular desses inocentes assédios e um deles devo revelar. Estava eu em sua oficina e entrei na casa - contígua - atraído pelo aroma dos bolos de Júlia. Ela os fazia às dúzias, Godô não comia pão. Mas só tomei um cafezinho e saí. Da oficina, ouvi pela janela: "Mas, gente, o bolo ainda está quente, saindo fumaça, e já comeram a metade!" Era a inconfundível voz de Júlia. Godofredo, que adentrara a cozinha, não titubeou: "Haroldo saiu daqui agora..." Ele sabia que comigo ela não ralhava. Quando de volta à oficina, disse a ele: "Bonito, hein Godofredo, isso não se faz. E se eu te dedurar?" Dedurar significava dizer à Júlia que ele levara a metade do bolo, envolto em papel de embrulho, para a loura que paquerava, comerciária das vizinhanças. Godofredo não bebia, não fumava, não comia pão, e só fazia suas refeições acompanhadas de garapa, fosse limonada, laranjada, umbuzada ou um suco qualquer: "Cadê a garapa, Júlia?" Quando havia vinho, não tinha dúvida: colocava dois, três dedos do néctar dos deuses em um copo, deitava água e açúcar e não raro misturava a garapa com uma perna dos óculos... Quando ia à feirinha de artes, aos domingos, ao sair da oficina mirava os sapatos. Sujos? Não tinha dúvida: se marrons, pintava-os de marrom; se pretos, tinta preta. Enfim, se o nosso GG pintou telas e letreiros por encomenda, no tocante à música, esta brotava dele. Andava distraído pelas ruas, ruminando ou assobiando alguma melodia, deixando notas pelo ar. E sucedeu que, em tenebrosa tarde abril de 1985, ao deixar o hospital aonde fora buscar uns exames, uma motocicleta o elevou aos céus, aos 77 anos, quando ainda trabalhava na oficina, tocava clarineta e violão e compunha suas inesquecíveis canções. |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 7/2/2013 18:19:34 |
| Biblioteca municipal Poderiam ser muitas as nossas bibliotecas mantidas pelo poder municipal. Meu saudoso pai, quando vereador, há 45 anos, preconizava que a cidade devia possuir, além da central, mais quatro bibliotecas nas grandes regiões do Maracanã, Santos Reis, Delfino e Alto São João. Seriam bibliotecas infanto-juvenis, denominadas por ele Monteiro Lobato (I,II,III e IV). O tempo passou e, nada... Meio século depois continuamos a contar apenas com a vetusta Biblioteca Municipal, funcionando hoje no segundo piso do Centro Cultural Hermes de Paula. No meu tempo de menino, funcionava a dita biblioteca no andar térreo da Câmara Municipal, do outro lado da praça da Matriz, em imóvel hoje demolido para dar lugar a um prédio de escritórios. Lembro-me, como se hoje fosse, dos Deusdarás, de Geraldo, Luís Santana Machado (filhos do saudoso jornalista Ataliba Machado - revista Montes Claros em Foco) e eu percorrendo aquelas estantes... Líamos e discutíamos Freud...Precocidade? E como! Mas entendíamos, ou nos parecia que entendíamos alguma coisa, principalmente o livro sobre a interpretação dos sonhos... Águas passadas, deixemo-las. Além das bibliotecas regionais com seus centros de informática, eu gostaria de ver, ainda nos nossos dias, uma melhoria sensível na nossa Biblioteca Municipal. Rato que sou dessa casa de cultura (não no sentido de furtar livros), mesmo não sendo vereador ou secretário de Cultura, ouso proferir algumas sugestões capazes de aprimorar o seu funcionamento como um todo. Senão, vejamos: 1. Dado que grande parcela dos nossos estudantes trabalha durante a semana e estuda à noite, por que não abrir a biblioteca aos sábados? Exemplos não faltam. Basta citar a biblioteca da Universidade de Brasília, UnB, que funciona full time, 24 horas, aos sábados, domingos e feriados, inclusive. 2. O nosso salão de leitura é confortável, falta-lhe apenas manutenção: lâmpadas e ventiladores invariavelmente queimados, bebedouros lastimáveis, cortinas não substituídas (levando o sol diretamente sobre os computadores, que logo estarão inutilizados), banheiros sem papel higiênico e em mau estado de conservação. 3. Urge informatizar a nossa biblioteca. Aquele arquivo de buscas é coisa de cem anos atrás. Hoje, os livros doados, centenas, são dispostos em estantes com a seguinte inscrição: Livros não Catalogados... Ou seja, se o leitor lá procurar alguma publicação recente (de uns 10 anos para cá...), certamente não a irá encontrar. 4. Deveria haver, e acredito que já houve, uma política de aquisição de livros, revistas e periódicos. Custaria o quê, quanto, à municipalidade, além da boa vontade, dispor a nossa biblioteca de um melhor acervo, moderno, bem como de jornais da capital do estado e de cidades como Rio e São Paulo? Por que não a assinatura de revistas variadas e periódicos? Revista velha, doada, é coisa para barbearia de periferia! Inadiável, também, a triagem de livros velhos, irrecuperáveis, fedendo a mofo. Destino? O lixo ou sua venda à quilo. 5. Dos 10 centros de informática doados pelo governo Lula ao município, um se encontra na Biblioteca Municipal. São 10 computadores que não deveriam estar lá e, sim, em algum outro local mais necessitado de tais centros. Os PCs são novos, porém, lerdos (provedor federal via satélite), irritantes, demandando tempo demasiado para alguma pesquisa. O objetivo de tais centros é o de atender a população no que tange ao acesso a e-mails, consultas para concursos, pesquisas em órgãos públicos de seu interesse, emissão de boletos bancários, enfim, facilitar-lhe as coisas do dia a dia, a tal inclusão digital, por sinal muito bem-vinda. Quem recorre aos computadores da Biblioteca Municipal são usuários, na grande maioria estudantes, que merecem acesso rápido a sites variados e sem censura (exceptuando-se, obviamente, acesso a sites pornográficos). O acesso a blogs é vetado nesses centros, por quê? Há alguns que incomodam os governos? E daí? Chegou-se ao cúmulo, na administração passada, de se suspender a assinatura de jornal local que falava mal do prefeito... Onde estamos? 6. Assim, no tocante à informática, nossa Biblioteca Municipal necessita, urgentemente, de uma nova central de computadores (duas dúzias) dotados de fones de ouvido, com entradas USB, saídas HMI, enfim do que há de mais moderno, e por que não? Uma boa impressora, em cores, também seria desejável. Ah, e o mais importante, um provedor veloz! Parece muito? A mim parece muito pouco, estaremos apenas atendendo a um direito dos nossos estudantes, futuro do município, do estado e do país. Ou não? Quanto ao pessoal da Biblioteca Municipal, efetivos ou recém nomeados, todos sempre foram ou são extremamente atenciosos, procurando cumprir suas funções com os instrumentos que lhes são oferecidos. Acredito que devem estar de acordo com essas minhas simples sugestões. |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 7/1/2013 16:03:22 |
| DEFLORADA NA SERRA Decorridas quatro décadas creio já poder revelar, se não o maior, certamente o mais criativo golpe publicitário da história de Montes Claros, cidade pródiga nesse tipo de expediente. Lembram-se do caso Orieth Bay? Pois bem. Era comum à época entidades filantrópicas, times de futebol, turmas de formandos ou conjuntos musicais solicitarem aos donos de cinema a cessão de algum filme, cuja renda da bilheteria , dividida por dois, contemplava gregos e troianos. Os Eremitas (Reinaldo Oliveira, Geraldo Madureira, Herbert Caldeira e Luiz Guedes), banda de rock dos anos 1960, via-se em dificuldades para renovar seu equipamento e apelou ao dr.Mário Ribeiro, sócio-proprietário dos Cinemas Norte de Minas.Mário os recebeu muito bem, ligou para o seu gerente, Otávio Silveira, e recomendou os rapazes. A fita disponibilizada era Florada na Serra, em preto e branco,última das dezoito películas produzidas pela Vera Cruz. Produção caríssima e elenco de primeira (Cacilda Becker – em sua única aparição no cinema – Jardel Filho, Ilka Soares, John Herbert...). Havia sido sucesso de crítica e bilheteria, mas isso em 1954... Quinze anos após, os garotos da banda viram-se com um abacaxi nas mãos – o que fazer para promover aquele filme? Meio desanimados, antevendo bilheteria ridícula, começaram a fazer cartazes em cartolina para a divulgação do filme em colégios.lanchonetes, bares, lojas etc. No meio do trabalho um deles, sem dúvida o Reinaldinho, propôs aos demais membros do grupo: “ E se mudássemos o nome do filme?” Foi o que fizeram. Deflorada na Serra, sem sombra de dúvida levaria multidões ao cinema e foi o que aconteceu, cine Coronel Ribeiro lotado na sessão da tarde de uma quarta ou quinta-feira. Começa o filme. A moça rica (Cacilda Becker) que vai passear em Campos do Jordão descobre-se tuberculosa... Foge da clínica e encontra um rapaz, escritor pobre e desconhecido, na estação de trem... Ele chegara para se tratar... Ela passa mal... Volta à clínica acompanhada do rapaz... Meia hora de filme... Monotonia... Uma hora de filme... Nada... De repente um gaiato gritou da platéia: “Cadê a deflorada?!” Nada... Aí já não tinha como segurar os mais exaltados. “ Oh, Jacó (apelido do funcionário que projetava os filmes), quero o meu de volta!” “Aqui não tem otário não, meu chapa!” Tumulto, revolta, pouco faltou para que depredassem a sala de espetáculos quando o filme terminou. Mas, enfim, como bons montesclarenses, foram todos embora e em paz... NOTA: Reinaldo Oliveira, Geraldo Madureira e dessa vez também Hélio Guedes, o Patão, protagonizaram outro feito de igual valia naquela época:Anunciaram em carros de som pela cidade a presença do então famoso cantor Jerry Adriani, ao vivo, no cine São Luiz. Sim, sim, Jerry Adriani esteve lá, mas apenas na tela... |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 12/11/2012 15:37:15 |
| João Avelino Neto 26.07.1994 - 11.11.2012 “Não andou neste mundo só para ver andar os outros...” José Saramago Sim, meu querido amigo e irmão, João Avelino, fez e aconteceu – marcou época! Viveu a infância no Quilombo, propriedade rural de seus pais, na localidade de Mato Seco,a 12 km de Montes Claros. Ainda menino auxiliava nos trabalhos da roça e, já taludo, botando buço, guiava a carroça com parte da produção para o mercado local – 24 km, ida e volta, em estrada de terra. Alfabetizou-se em escola existente nas proximidades de Mato Seco, transferindo-se para a sede do município aos 12/13 anos, onde passa a estudar no Colégio São José – maristas. Conclui o Clássico na Escola Normal e alguns anos depois presta vestibular para o curso de direito da então Fundação Universidade Norte de Minas, hoje Unimontes, onde cola grau. Presidente da Associação Cassimiro de Abreu, cujo time de futebol o encantava, começara também a advogar para as empresas de transporte Montesclarense e Belo Vale. Homem público na acepção do termo, admirado pelos que o conheceram e privaram de seu profícuo convívio e, infelizmente, mal compreendido por alguns segmentos da elite citadina – notadamente a empresarial e rural –, não tardou a entrar na política. Seu primeiro partido foi o MDB – Movimento Democrático Brasileiro –, incansável na luta contra a ditadura militar que se instalara no país. Nessa época, diretor local da Secretaria de Estado do Trabalho – SETAS, realizou gestão das mais notáveis, formando uma equipe de colaboradores que o acompanhou anos afora. Seu passo seguinte foi ocupar a Secretaria Municipal de Administração, no governo do prefeito Mário Ribeiro, daí passando à dedicação quase exclusiva à causas trabalhistas, sua especialidade no campo do Direito. João Avelino, como advogado, jamais defendia patrões, mas, sempre, a parte mais fraca da relação capital-trabalho – o trabalhador. Em 1986, candidato a deputado estadual obteve, pela legenda oposicionista, a expressiva votação de cerca de 17000 votos. Com a extinção dos dois partidos que dominaram o cenário político após a reforma politica de 1966 (AI-2), o MDB transformou-se no PMDB, um saco de gatos, no dizer de João. Daí a seu ingresso num novo partido que surgira e que vinha de encontro às suas aspirações, o Partido Trabalhista, foi um pulo. Eis o João Avelino petista, militante incansável, idealista. Presidiu o PT local por dois anos, sendo reeleito por aclamação. Secretário Municipal de Segurança Pública no governo Athos Avelino, deixa a Secretaria, extinta, e passa a dirigir a ESURB, Empresa Municipal de Serviços Urbanos, onde destacou-se pela sua competência em contornar adversidades. Finda a gestão Athos, retorna João Avelino à sua banca de advocacia, onde permaneceu até o seu último dia de vida. Articulista de mão cheia, seus artigos e análises políticas foram lidos, relidos e por muitos guardados, verdadeiras aulas de história municipal, estadual, nacional e mundial. João abrangia tudo. João Avelino Neto foi um homem simples. Ajudava a todos que o procuravam, seja com uma feira ou ponderados conselhos e teve poucas – ou muitas? – paixões: a família, a roça, a politica, amigos, nesta ordem. Essa grande figura da municipalidade – verdadeiro monumento moral – deixa uma legião de amigos e admiradores. Você foi abençoado, João. Está em boas mãos! Saudades e Saudações, Companheiro! |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 29/5/2012 16:01:14 |
| Flashes da idade da inocência Para o amigo e editor-chefe, Reginauro Silva, in memorian. Ocasionalmente, paro para dar um balanço parcial nesta minha já mais ou menos longa trajetória por este belo planeta, Terra, o que fazemos todos os humanos, penso eu. As primeiras cenas que vejo – memorando – são como instantâneos interiores que registram algum momento sem causa ou efeito aparente, congelado em si mesmo. É como percorrer um velho álbum de fotografias.Cronologicamente, na abertura deste álbum estou em uma aeronave, sinto cheiros novos – tecido sintético, plástico, aço/alumínio -, o primeiro misto quente, a primeira Coca-Cola, turbulências, vomito em um saquinho que a mão da moça veda ao puxar um cordão. Foi o seu vôo inaugural, esclareceu-me minha memória auxiliar – mamãe. E continuou: Um DC-3 da Panair do Brasil levou-nos, seu pai, eu, você e Roberto, de Montes Claros a Salvador. Havia escalas em Pedra Azul e Ilhéus. Sobrevoando Pedra Azul, o avião jogava muito. Ali você vomitou, depois de lanchar. Elucidada, portanto, a minha primeira questão existencial.Em seguida estou com os braços suspensos, buscando em vão alcançar um filtro vermelho de barro. Aonde fora isso? Responde minha MA: Nacasa de sua bisavó, Carlota, na rua Carlos Gomes,próxima à praça Castro Alves. Num instante passoa um bonde, novidade. Salto em Ondina, piscina natural entre pedras, água salgada, ardor nos olhos, balde e pá, areia. A careca de vovô Mamão, assim chamávamos os netos o pai de minha mãe, encerra o registro dessa viagem. Tinha eu quatro anos. O pano volta a subir aos cinco, quando me impuseram a escola. Acabava-se o que fora doce. Para sempre. Curso pré-primário, aonde ia eu todas as santas tardes, paradoxalmente alegre e saltitante – assoviando! Grupo Escolar Dom João Antônio Pimenta, casarão colonial de dois andares, o segundo com área menor,localizado na Semeão Ribeiro com Governador Valadares, diagonal do bazar de Jabbur, hoje lanchonete Crystal. Descia eu a Pedro II e, logo ali na esquina da dr. Santos (eu morava na São Francisco), juntava-me a Cassimiro Colares, Reginaldo Lafetá e Sérgio Deusdará, estes, vizinhos. Formava-se então a trinca, uniformizada, mas dela só me lembro dos suspensórios que usávamos. E de Reginaldo a nos contar como sua irmã, Fátima, morrera afogada (daí o Cine Fátima, construído por seu pai - Lezinho - alguns anos depois). Fila dupla para a entrada em aula, uma ressequida goiabeira no pátio de cimento do casarão, escada de madeira que levava ao andar superior... Frequentávamos, a trinca, a mesma classe, no térreo. Ali,tudo o mais me escapa. Não me recordo da professora ou de seu nome (Lili?), nem das aulas nem dos colegas nem mesmo de meus amigos em ação – batalhas com bolinhas de papel, disto sim, me lembro bem, levei uma pregada num olho. Do meu processo de alfabetização revejo apenas mamãe, a recortar letras grandes em revistas e jornais, colá-las em quadrados de cartolina, de sorte a formarem sílabas e pequenas palavras, o meu beabá.Por certo, nessa época, a chegada de um novo bispo diocesano, dom José Alves Trindade, galvanizara a cidade. Vejo-me, quando de sua primeira aparição pública, numa catedral apinhada – jamais eu vira tanta gente junta -, o incenso e o lusco-fusco do entardecer a embaçar parcialmente a visão das coisas. Postado ao fundo da nave, a alguns passos da principal porta do templo, eu via aproximar-se, a duras penas devido ao beija-mão, o imponente vulto de roxo, com um cetro (cajado, hoje sei) de prata e um chapelão cônico (ops!, mitra). No anular da mão direita, igualmente roxa, uma pedrona incrustrada em ouro. Que me recusei a beijar, por me parecer nojenta toda aquela baba em volta.Que povo, lambia a mão do prelado! Daí, dessa aproximação com a Igreja, deve ter nascido a brincadeira de missa que engendramos, eu, meu irmão Roberto e nosso amigo e vizinho de frente, Edmilson Lessa. Um crucifixo, umas tantas imagens de santos e algumas velas adornavam o cenário. Paramentados com toalhas de banho sobre os ombros, que nos caíam aos pés dada a nossa altura, entrávamos na liturgia. Roberto e Edmilson se revezavam nos papéis de padre e sacristão. Eu, com uma carapaça de papel de seda roxo, fazia o bispo, sempre. Os santos ofícios findaram no dia em que Roberto se rebelou: Ou eu também sou bispo nesta merda de igreja, ou não sou nada, não brinco mais! |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 11/5/2012 12:49:30 |
| DIDU, algumas lembranças... MALLARMÉ, Sthéphane/sobre Rimbaud "Ele, clarão de um meteoro iluminado sem outro motivo a não ser sua própria presença, se vai só a se extinguir." Meu querido irmão Roberto, Didu para os amigos, muitos, faria em 28 de fevereiro último 60 anos. Peça rara, raríssima - consenso - se foi,precocemente, aos 37. Nas teias da vida chocou-se com uma locomotiva vinda em sentido oposto. Quando menino, ainda no marista São José, sabia de cor e salteado todas aquelas coisas maçantes que quase ninguém sabia ou queria saber: biografias de santos, datas históricas e, cacete!, nomes de rios e mares e capitais mundo afora. Fazia análise sintática! De textos de Camões!, a quem não poucos odiavam e chamavam de o Caolho. Quando, em casa, dava-se a recitar poesias, meu pai ficava de queixo caído: "Esse menino é um gênio!" Desnecessário encaminhá-lo a testes vocacionais, o boletim escolar apontava-lhe o destino: em matemática, desenho (geométrico), educação física (não ia às aulas), ciências, música, caligrafia, ZERO; em história, geografia, português, inglês, francês, religião, DEZ. Comportamento, idem. Só se dedicava ao que gostava, daí sua média mensal sempre baixa. Mas não chegou a tomar bomba no ginásio. Na adolescência, como bons irmãos que éramos, começamos a divergir em alguns pontos. Ele, apaixonado, fanático por futebol, assinava a revista Placar e não deixava de ler um parágrafo sequer dos cadernos de esportes do Estado de Minas e do Jornal do Brasil. Seus novos santos eram agora jogadores. Dos favoritos sabia tudo: nome completo!, data e local de nascimento, prato e perfume prediletos, carreira - veio-de-onde, vai-pra-onde, valor do passe..., estado de saúde - está contundido, quebrou o braço, a perna, levou uma cotovelada no olho,operou os meniscos... Uma coisa! Eu criticava aquela inutilidade cultural e ele retrucava, marcando gol: "Uai, você não sabe a data de nascimento de cada um dos Beatles? Que Ringo Starr toma uísque com Coca-Cola? Que John, abandonado pela mãe separada do marido, foi viver com a tia Mimi? Sua paixão futebolística tocou a trave da loucura ao resolver pintar o quarto de vermelho e preto. Cores do seu adorado Flamengo, tri campeão carioca de 53-54-1955, feito que ele não cansava de repetir. Nos outros times, com raras exceções, só havia pernas de pau, juízo que modificava quando passavam a ostentar a camisa do Mengo... Até curti a ideia de ver nosso quarto rubro-negro, mas mamãe vetou-a: "Aí é demais!" Minha bisavó Carlota, que morava conosco, veio a reboque: "Oh, meu filho, são cores do demônio, do inferno, não faça isso, vou lhe mandar benzer." Ele e vovó Carlota eram parceiros no jogo do bicho: ela financiava, ele ia ao apontador, o que para ela não ficava bem. Quando ganhavam dividiam o prêmio e eu ficava com uma ponta de inveja, mas acabava levando uns trocados. Jogo, outra das paixões do Didu adolescente, fosse qual fosse,lúdico ou contraproducente: damas, xadrez, ludo-real, dominó, varetas, banco imobiliário (o War viria mais tarde, mas ele ainda o alcançou), roleta, buraco em família, sete-e-meio, vinte-e-um, caixeta e pôquer com os amigos, esses últimos apostado. Para o pôquer - lembram os parceiros - paramentava-se com sua camisa-polo do Flamengo e acendia uma vela sobre o aparador da sala de jantar. E entrava em campo para ganhar, frio, calculista, blefador. Separamo-nos, enfim, de quarto. Fui para um outro com meus rocks, ele permaneceu no nosso com o seu futebol. Logo encontraria no meu irmão-de-leite, Sérgio Deusdará, um substituto. Nos fins de semana ouviam, num rádio portátil enorme, de seis ou oito pilhas, todos os jogos possíveis. E não ficavam nisso. Encerradas as partidas, passavam aos comentários e mesas redondas, um saco! Eu ficava por ali, só, e os dois metidos no quarto com sucos e biscoitos. Devido ao avançado da hora, Sérgio acabava dormindo em minha antiga cama. Seus pais,dr. Deusdará e Toinha, amigos dos meus, sabiam que, de sábado à tarde à noite de domingo, com o filho não podiam contar. Logo comecei a frequentar festinhas e não dava mais bola para eles. Depois Didu mudou, por volta dos seus 14/15 anos. Continuou Flamengo, sempre, mas encaixotou sua coleção de Placar e passou a ler Rimbaud, Baudelaire, Mallarmé, Verlaine, Vinícius, Drummond..., poetas mais sérios dos que lia até então. E de mero espectador de cinema evoluiu para a categoria de cinéfilo, de carteirinha. Mesmo sem alcançá-los, que idade nem maturidade tinha para isso, só falava em Goddard, Glauber, Welles, Pasolini, Antonioni, Fellini, e em nosso Carlos Alberto Prates, aquem chamava intimamente de Charles (ficaram amigos quando da filmagem local de Os marginais). John Ford, Howard Hawks? Apenas mestres do passado... E assim como anotava em uma caderneta todos os livros lidos, com a sua cotação final, bom ou mau, abriu outra para os filmes. Ali se podia ver título, gênero, diretor, produtor, atores principais, coadjuvantes, enfim, tudo o que merecia créditos na película. Acrescentava o nome da sala que exibira a fita e o preço do ingresso! Finalmente, a sua cotação, que ia de uma a cinco estrelas. Em Belo Horizonte, para onde foi pouco depois dessa época, tornou-se assinante dos Cahiers du Cinéma por algum tempo e consumidor de revistas e livros nacionais especializados que começavam a aparecer. Em música, gostava das canções passadas - Billie Holiday, Louis Armstrong, Cole Porter, Chet Baker, Sinatra, Ray Charles, Elvis e outros -,do rock inglês que assolava a nação, mas tinha queda especial pela nascente bossa-nova, com João Gilberto, Tom, Vinícius, Toquinho, Chico, que amava. Roberto ou Didu, como queiram, esteve pouco tempo entre nós, um cometa, mas deixou muitas outras lembranças. Viveu! Ficam essas para uma próxima oportunidade. |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 27/4/2012 16:26:41 |
| A praça A família morava na doutor João Alves, praça que vi ser construida. Era um terrenão baldio, fofo, dois dedos de pó amarelo lembrando ouro de aluvião. Nem árvore ou pé de mamona, sequer um reles arbusto a adorná-lo. Total desolação, não fosse o cruzeiro enfincado no centro da terra nua. De aroeira, certamente, pois ainda resiste, transplantado para o interior do grupo escolar Gonçalves Chaves quando do ajardinamento do logradouro. Foi ali, numa esquina da praça-pó, defronte ao antigo Instituto Norte-Mineiro de Educação (atualmente Automóvel Clube), que vi, ao vivo, meu primeiro cadáver. Não me lembro de sangue ao lado do corpo do mulato adulto, idade indefinida, mas comentavam ao redor ter sido o mesmo assassinado a tiros. Eram sete da manhã, se tanto. Foi juntando gente. Uma beata de preto, a caminho da Catedral, acercou-se, agachou-se junto a vítima, sacou da bolsa uma vela, acendeu-a, persignou-se, levantou-se, olhou em volta, me achou e tomou-me pela mão dizendo que menino não podia ver aquilo. Mas ainda vi, com o rabo do olho, cobrirem o defunto com jornais, a espera da polícia. Ficou bonita, a praça, depois de pronta: calçadas largas, bancos, gramados, árvores várias por crescer, flores, jardins, área de recreação em frente ao grupo escolar e, luxo supremo na Montes Claros de então, luminárias com lâmpadas a vapor de mercúrio! Na inauguração, coincidente com a comemoração do cincoentenário do grupo escolar, o prefeito Semeão Ribeiro Pires não cabia em si de contente. Tornou-se a nova praça o paraíso dos namorados, soldados do batalhão da PM e recrutas do Tiro de Guerra (ambos os quartéis ficavam ali perto, o da PM na praça Demóstenes Rochester, que leva a estátua de Francisco Sá, e o do TG no largo de terra batida da antiga estação ferroviária da Central do Brasil) e outros, todos caídos de amores pelas empregadas domésticas das vizinhanças. Ah, quantas juras de amor eterno e promessas de casamento não foram proferidas naqueles bancos! Oh, quantos suspiros e abraços, beijos ardentes, bolinas e amassos testemunhamos nós, meninos, de passagem ou metidos nas moitas, entreabrindo-lhes os galhos para ver e aprender! Mas a doutor João Alves sempre foi praça mal amada: sua alma, a meninada do grupo escolar, sempre a pisoteou, geração após geração. Exceto durante os dois ou três anos em que o temido Bigode de Arame (Exupério Ferrador, devido ao seu antigo ofício de ferrador de gado) a vigiou. Contava-se ter sido ele cangaceiro de Lampião, daí a meninada se mijar ao vê-lo. Mas era boa gente, o Bigode. Somente assustava, o pobre velho. E estava ali para isso, servidor que era da prefeitura, para regar plantas e gramados, ralhar e fingir correr atrás dos pestes que pisavam na grama, arrancavam flores e trepavam nos bancos. Eu ou Roberto, até então meu irmão caçula, muitas vezes levávamos café e pão com manteiga para ele. Nessas ocasiões podíamos observá-lo de perto. O bigodão, de fios grossos, longos, retorcidos, realmente dava medo. Os olhos, miúdos, negros, profundos, impenetráveis. Barba sempre por fazer. No mais a figura de cor parda, esquálida, pobremente vestida, de alpercatas de couro cru donde brotavam unhas que mais pareciam cascos, já andada em anos, causava antes pena do que temor. Éramos amigos. O toque final na praça, o arremate, fora a implantação, no lugar exato do velho cruzeiro, de uma acrocefálica cabeça em homenagem ao médico que lhe empresta o nome e que ali residira com sua esposa Tiburtina e a única filha, Nina. Diretamente afixada sobre um pedestal de cimento granulado, ou seja, sem pescoço, a cabeçorra desapareceu como num passe de mágica alguns anos atrás. Devido ao seu peso - disseram alguns quando do fato - simples ladrões não poderiam tê-la carregado. "Está nos porões da prefeitura", afirmam outros. O certo é que ninguém sabe que fim levou o tal monumento, a não ser quem o tirou de lá. Resta a base, um monolito pichado. A placa de bronze com os dizeres de praxe, nele afixada, também evaporou... Dirigida aos órgãos públicos competentes, fica a pergunta que não quer calar: Cadê a cabeça do Dr. João Alves? Tempos depois, não sei precisar, para encanto da meninada construiram, em frente ao cabeção, uma piscininha, 4x2m, com uns 40/50cm de fundura. A um canto o aviso: É Proibido nadar! O laguinho destinava-se aos peixinhos, vermelhinhos, lindos. O aquário de uma só face bombou! Deitados de bruços ao redor do espelho d`água, merendeiras e pastas (mochilas viriam muito depois) atiradas ao acaso, com as mãos ou cotovelos apoiados nas bordas, maravilhados, espectadores mirins viam-se e viam as peripécias subaquáticas dos bichinhos, a entrar e sair de rochas e plantas. É preciso dizer que toda essa alegria durou pouco, que logo, logo não haveria mais peixinho nenhum, que o laguinho, aterrado, virou canteiro de roseiras, que também não vingou, virando nada, cimento, que anos depois novamente virou canteiro, justamente o que lá está? |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 23/3/2012 10:13:18 |
| Restaurantes Universitáriso...Meu primeiro cargo no MEC, Ministério da Educação e Cultura,em Brasília-DF, foi o de supervisor de convênios firmados entre aquele ministério e as faculdades católicas do país, no que concerne à contrapartida em bolsas de estudo ao que o ministério as financiava... Para ser curto e grosso, já que este não é o assunto em tela, basta dizer que, àquela época, 1981, o governo federal praticamente subsidiava o ensino ministrado pelas PUCs... Acumulava, também, as funções de supervisor dos RUs - restaurantes universitários - das escolas superiores federais.Em todos os restaurantes das universidades que visitei, país afora, era permitida a entrada/consumo de visitantes, se bem que a um preço maior, da ordem de 20/25%, o que é justo. Ontem, após uma pesquisa na biblioteca da Unimontes - Universidade Estadual de Montes Claros -resolvi conhecer e almoçar no seu recém inaugurado RU. Ali, para os menos avisados, só se permite o ingresso de pertencentes à comunidade acadêmica (alunos, professores e funcionários) e dos empregados de empreiteiras que trabalham no campus.Realmente, desconheço a conduta neste sentido das Universidades Estaduais. Quanto às Federais, acredito que a qualquer estranho aos seus quadros ainda é permitido o ingresso ao restaurante...De qualquer forma, Montes Claros é diferente, né Ucho?Obs: A referência a Ucho deve-se à sua passagem pelo MEC-DF; |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 1/3/2012 15:59:02 |
| Jurados em S. Francisco (Para Geraldino Gonçalves Coelho, in memorian) O ano de 1986 começara a rolar. Estávamos como sempre no Big Burguer, bar-lanchonete de Marcos Antonini localizado no térreo do recém-inaugurado edifício Montes Claros. Dele também eram a tradicional e hoje - infelizmente - desfigurada Crystal e a Brunini, sorveteria do Quarteirão do Povo onde o maestro italiano Sergio Magnani - professor emérito do Conservatório Mineiro de Música e do nosso Lorenzo Fernandez - ficava horas a fio a anotar meditados apontamentos em sua caderneta de capa preta. Criava, ali, talvez detalhes de mais uma ópera. Mas não tomava sorvete, o maestro. Sorvia aos poucos a caipirinha especial que lhe mandava servir o patrício Antonini. Às quatro da tarde Marcão, como o chamávamos, deixava seus estabelecimentos do centro aos cuidados de empregados, dirigia-se ao apartamento do edifício Montes Claros, tomava banho e descia para o Big Burguer, seu xodó, aonde dizia não trabalhar. Isso mesmo, sentava-se com os amigos, nós, e comandava pedidos como se freguês fosse. Vez por outra ultrapassava o balcão, movido pela vontade de preparar um coquetel para uma amiga, o que fazia como ninguém, ou uma tábua de frios, inigualável. Bem, estávamos ali nas preliminares quando chega o Geraldino (Boutique) Coelho com uma grata missão a cumprir, encomendada pelo então prefeito de São Francisco, o popular Severino Gonçalves. Encarregado fora ele, Geraldino, de convidar os componentes para o júri das escolas de samba da agradável cidade ribeirinha. Acertara na mosca o prefeito, pois Geraldino, além de tarimbado carnavalesco nos seus tempos de Rio de Janeiro, comandara por anos a campeã das campeãs do Carnaval montesclarense, a Unidos do São João. Investia ele do próprio bolso na compra de caríssimos adereços, plumas, dourados e sedas em profusão, para que sua amada sociedade carnavalesca brilhasse nas ruas. - Cabaret, você vai julgar a bateria. - Eu, Gera? Só entendo de bateria de rock... - Que nada, você tem rítmo, isso é o que conta. Em verdade eu já tocara surdo, tamborim, agogô e sei lá mais o quê em blocos de praia em Salvador, daí não me sentir despreparado para o desafio. Geraldino tomou um gole, correu os olhos pela mesa e fulminou: - Fuso (assim ele apelidara Egídio), a comissão de frente é sua. - Mas eu gostaria de julgar evolução... - Humm, tudo bem... Garçom, anota aí: Egídio, comissão de frente e evolução. E justificou a escolha: - Fuso é carnavalesco nato, entende do babado, sabe de cor inúmeros sambas-enredo, já assistiu a dezenas de desfiles pela TV... Ninguém o contestou. E ele prosseguiu: - Dona Vanda fica com o samba-enredo e as fantasias masculinas. Todos aquiescemos. Vanda, sua mulher, cantara em rádios quando solteira e o acompanhara desde o Rio, sempre envolvida com carnavais. Quanto a julgar fantasias masculinas, trazia no curriculo ter participado de uma das equipes do campeão dos desfiles cariocas Carlos Bornay. - Marcão, você vai de porta-bandeira. E fica também com os passistas, pois estarei muito ocupado com os carros alegóricos e fantasias femininas. Kid Gole e Bebé My Friend - baiano porreta! - chegaram ao Big, tomaram assento, ficaram a par do assunto em tela, mas incubência nenhuma lhes foi oferecida por Geraldino: o corpo de jurados estava formado. Então fomos nós, dois dias depois, rumo a São Francisco, lá chegando por volta das dez da manhã do sábado de Carnaval. O bar mais simpático da orla nos acolheu. Avisado da presença dos ilustres jurados na cidade, Severino ordenou que dois cicerones ficassem à nossa disposição. Nada solicitamos aos gentis rapazes, pois do bar não arredamos pé. Sentaram e beberam conosco. Mas foram muito úteis ao nos informar sobre o Carnaval da cidade, notadamente sobre o desfile das escolas. Eram duas as agremiações, disso já sabíamos. Rivalidade extrema. Agressões mútuas. Simpatizantes eufóricos dispostos a tudo. Rapaz algum sequer brincava com moça pertencente à escola adversária... Tudo isso desconhecíamos. Sol no zênite, veio-nos a convocação para a peixada oferecida pela prefeitura. Seria o ágape a abertura oficial do Carnaval. Ali, num aprazível sítio à beira-rio, encontraram-se o mundo oficial e o carnavalesco da cidade. Hotel, cama, banho, bar. Mais à noite, clube. Total mordomia. Não nos deixavam comprar nem mesmo uma simples caixa de fósforos. "Pudera, não cobramos cachê", disse um dos nossos. No domingo fomos à praia, do outro lado do Velho Chico. Atravessa-se em canoa, água pelas bordas, mas tudo correu bem - remadores firmes e prudentes. Trazida pelo Geraldino, presidente do júri, nos alcançou na barraca a terrível notícia: não se poderia beber durante o desfile... Quatro horas, ou mais, a seco... Em pleno Carnaval! Marcão disse que não suportaria tamanha tortura. O que fazer? O júri foi instalado na carroceria de um caminhão decorado a rigor. Subia-se por uma escadinha, retirada a seguir. Distantes umas das outras carteiras de escola nos esperavam, com lápis, borracha, caneta e um envelope pardo contendo a papelada necessária aos trabalhos. Foliões, de olho em tudo, sem saber quem julgaria o quê. Ninguém, nem mesmo o prefeito, podia dos jurados se aproximar. Mas o garçom, sim, quando solicitado a servir refrigerante ou água mineral. Foi quando dei um grande gole pelo gargalo de uma Coca-Cola e a coisa quase volta que percebi: a coca fora batizada! Havia vodka ali! Quem bebia vodka? Egídio! Olhei para ele que, matreiro, educadamente se servira de um copo com gelo. Imitei-o incontinenti. Subornara o garçom, o safado! E lhe recomendara que não servisse daquelas inocentes garrafinhas a Geraldino e muito menos à dona Vanda. Nós outros bebemos e nos divertimos, intimamente, porque membro de júri deve deixar transparecer que é sério. Veio o desfile. As escolas, cada qual melhor que a outra. Lindas! Tudo perfeito, sincronizado, mas, ai!, a bateria da segunda atravessou. Atravessara? Não, bem, apenas um soluço, engasgou... Mas eu percebi. Eu e Marcão, pois trocamos olhares significativos. Como eu tinha dado nota 10,00 à outra escola nesse quesito, marquei 09,50 para a soluçante. Nada demais, fui justo. E dela só tirei meio ponto. Pois foi o que bastou. Quando da apuração final do resultado, a segunda agremiação a desfilar perdera por meio ponto. Lembrei-me da meia polegada a mais nos quadris, o que levara Marta Rocha a perder o título de Miss Universo... Evidentemente a escola perdedora não engoliu o resultado. Ninguém ou quase ninguém percebera a atravessada. Senti isso no clube, para onde fomos em seguida ao desfile. No banheiro um adolescente disse a outro algo como como tirar meu couro para dele fazer tambor... De volta à mesona do prefeito narrei o fato aos amigos. Todos ficaram preocupados. Ao largo olhares nos fuzilavam. Enquanto ali estivéssemos, quietinhos, apenas bebericando, decerto nada iria acontecer. Mas, e depois? Realmente, no clube não houve ameaças sérias, Fuso até dançou. Saimos do baile escoltados até o automóvel oficial da prefeitura. Uma viatura da polícia nos seguiu até o hotel, onde não dormimos. Assim que as ruas se acalmaram, toda a cidade a dormir, arribamos para Montes Claros. Nem do farto desjejum do hotel chegamos a provar. |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 18/12/2011 18:07:01 |
| DELÍRIO DE NATAL Lembra-me o Natal as crianças. Creio não poder ser de outro modo, ao rememorarmos nesse dia o nascimento de uma delas, espelho de todos nós, que também um dia fomos - ou seremos, eternamente? - crianças. O efusivo das cores, as luzes e o brilho das vitrines são de todos, mas só a elas pertencem. Somente aos pequenos é dada a chave do segredo da Esperança. O que seria do Natal sem crianças? O que faria o bom velhinho sem a sua razão de ser? Quem nele acreditaria, apesar da sua longa, longeva e nevada barba e do engraçado bigodão? A esperança dos pequenos é a expectativa do presente: O que irão ganhar? Hoje, muitos já sabem, infelizmente... E, na inocência da idade, mal sabem que outros muitos nada ganharão. Ah, nada mais triste do que uma criança triste no Natal! A nossa expectativa, adultos, nosso maior presente, não seria não mais vê-las em tal estado? Sonhei com um Natal rejubilante. Todos estavam nas ruas, as praças regozijavam os espíritos. Nas lojas de brinquedo, franqueadas, a petizada se esbaldava; nas de vestuário, todos se travestiam; em bares, restaurantes e similares, todos se fartavam; nos hotéis, muitos se revezavam. Enfim, é Natal, um dia como nenhum outro! |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 6/12/2011 08:23:52 |
| ELA e EU Haroldo Tourinho Filho Voltara da praia bronzeado, renovado, e mais disposto do que nunca a mais um ano de luta. E aquele não seria mole, ano de vestibular. Já me matriculara no 3º científico, noturno, do Champagnat. Faltava-me o cursinho, complemento indispensável aos que almejam o anel no dedo. Sem esse preparatório, o cursinho, com professores tarimbados em passar macetes e pegadinhas dos testes aos vestibulandos, fica mesmo difícil para alguém vir a empunhar o canudo. Egressos de escolas públicas e particulares de segunda linha, onde não raro pessoas incapazes de aprender se metem a ensinar, que o digam. O último ano do secundário foi sempre um período de extremo sacrifício para os que desejam ir além. Nada de barezinhos, horas-dançantes ou inferninhos (devido às luzes vermelhas), como eram chamadas as miniboates do segundo piso do edifício Maleta, o "antro da perdição" da Belo Horizonte dos anos 60. Afora nas mãos de James Dean em Juventude Transviada, foi nos corredores do Maleta que vi, ao vivo, aqueles temíveis canivetes automáticos e seus portadores, adolescentes paramentadas de couro, blusões negros, comme il faut. Assim, aos domingos, para relaxar, no máximo um cinema. Ou esticadas ao Mineirão em dias de clássico. Esporte mesmo se praticava nos bate-bocas dos recreios escolares. Namorar, nem pensar. Optei por um cursinho vespertino, de uma às cinco. Diziam ser o mais moderno da cidade, não me vem agora o nome... Próximo à igreja da Boa Viagem, funcionava em ampla casa com quintal, tranformado em um pequeno anfiteatro e cantina. Sob uma mangueira centenária, algumas mesas e cadeiras e ao fundo os sanitários. Vinte alunos em cada sala, poucas, dotadas de aparelho de TV em que se podia assistir aos repetecos das aulas em videotape. Fumava-se em sala de aula. Quando o meu Zippo negou fogo, eis que me cutucam as costas, ela, oferecendo-me um delicado isqueirinho dourado, Cartier? Eu ainda não a vira, aquele era o nosso primeiro dia de aula. E agora não via mais nada, somente dois olhos azuis dentro dos meus, espetando os meus. Com que pretexto me voltar, para ser novamente fuzilado por aquele olhar? Logo, logo acudiu-me a ideia de fumar. Ela acendeu-me novamente o cigarro e deixei a sala de aula. Não para ir à cantina ou ao banheiro, mas para poder observá-la por inteiro ao retornar. E o que vi, meninos... Estava ali a perfeição, a beleza da arte grega em carne e osso. Blusa branca, saia azul-claro, meias brancas três quartos, sapatos pretos... Aluna do Sacre Coeur. Desculpe, nem mesmo me apresentei; meu nome é Bernardo, e o seu? Marina, respondeu ela. Formalmente apresentados, dali, o que viria, fiquei a imaginar. Ela cursava o científico ou clássico pela manhã e não dera ou não dava tempo de almoçar em casa... Absorto em tais pensamentos, à pergunta do professor não respondi, era comigo?Desculpe-me, professor, eu havia me ausentado da sala... Mas a questão se refere à nossa última aula, disse ele. Ah, sim, respondi me recompondo: as células da traqueia são caliciformes... E o tecido? perguntou ele a um outro aluno. Amiudaram-se as nossas falas. A tendência natural dos jovens a formar grupinhos moldou mais ou menos o nosso: Marina, eu, Ana, Maria, Otávio e Alberico, este último neto de um ex-governador do Ceará. Éramos, ele e eu, os únicos não belorizontinos da turma. Quando possível, saíamos para um chopinho e tagarelar. Mentiroso como só ele. Eu deixava passar, me divertia a valer com suas lorotas. De baixa estatura, franzino, Alberico era do tipo vermelhão, cabelos cor de fogo, enormes olhos azuis, dois lagos a transbordar bondade.Aparentemente ingênuo, de bobo nada tinha, pelo contrário. Devido ao confinamento voluntário, começamos a adquirir aquela cor indefinida, o amarelo-vestibular. Cursinho à tarde, científico à noite, quando eu chegava ao velho hotel São Luiz tomava um banho, lanchava e agarrava-me aos livros. Não raro surpreendia-me o amanhecer. Para afastar o sono consumia-se muito Pervitin, do qual fiz uso algumas vezes, mas, como o coração disparava, parei. Alberico ligou-me num sábado, convocando-me a sair. Não aguento mais, hoje vou botar pra quebrar, topa? Como eu só precisasse de um convite, respondi de pronto: topo! Promete não falar em vestibular? Prometo! E lá fomos nós. Começamos por uma cantina árabe, quibes e chopes. Quando passamos à Vodka, após a segunda dose Alberico observou: Você anda espichando os olhos para a Marina, tá meio caído por ela, não? Eu? Impressão sua, meu caro... Alguém mais teria percebido? Fizera tudo para disfarçar... É, pode ser mesmo impressão minha, mas quando o professor disse na aula de inglês, She`s the most beautiful girl in town, você olhou para ela de imediato. Coincidência, Alberico, coincidência... Ela deve ser mesmo a garota mais bonita da cidade, disse ele, nem no Ceará vi coisa igual! No Ceará? Alberico, as garotas mais bonitas do Brasil estão aqui mesmo, em BH. Mais uma Vodka e ele abriu o jogo: Sabe, Bernardo, quase me apaixono pela Marina, mas me curei a tempo. Essa declaração foi um choque, senti o sangue ferver. Com o auxílio de um gole e de um cigarro, pude enfim contornar a náusea que me invadia. Por que não foi em frente? perguntei. Era causa perdida. Como assim? insisti. Bernardo, vivemos aqui de mesada e a menina é rica. E daí? E daí, disse ele, daí que eu a vi abrindo a carteira na cantina. Assim de dólares, xará... Quer mais? O cara que às vezes vai buscá-la na aula, aquele do MG branco, que na minha ilusão eu pensei tratar-se de um irmão, sabe quem é? O namorado, xará, vi a foto dos dois em uma coluna social, baile no Iate. Vamos mudar de bar e de assunto, disse eu. No caminho para o restaurante Rosário, na avenida Paraná, fui remoendo a derrota. A fina flor da boemia local encerrava as noitadas no Rosário. Ali, entre músicos, intelectuais, putas, policiais, gigolôs, estudantes e jogadores profissionais, expurguei a minha dor. Disse Alberico, meu irmão, você me salvou de uma gelada: eu pretendia dar um xeque-mate na Marina depois de amanhã. |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 21/9/2011 14:49:48 |
| Medo de Avião Haroldo Tourinho Filho Adoro aviação. Sobre o assunto, leio tudo que me cai em mãos. Certa ocasião, levei meu pai ao aeroporto da Pampulha. Ia ele para Salvador. Chovia a cântaros. Bacias d`água despejavam-se sobre o carro. Eu estava apreensivo. Vai viajar com esse tempo, pai? Tem medo não? Medo?, respondeu ele, tenho não. Ou cai ou chega. Lógica irrefutável... Deixei-o na área de embarque e fui estacionar o carro. Quando adentrei o saguão do aeroporto, feito pinto molhado, ele já se encontrava no balcão da Varig. Procurei saber qual era o equipamento (é assim que chamam avião) para o voo. Seria um Viscount, ainda bem. Turboélice quadrimotor, igualzinho ao da presidência da República. Dois Samurais - cópia japonesa cuspida e escarrada do Avro inglês - da Vasp haviam caído recentemente e, num deles - conferi o prefixo da aeronave -, quase se fora minha mãe, na rota BHZ/RIO. Se ela embarca uma semana depois, já seria... Eu continuava apreensivo. Parecia que o aguaceiro aumentara de intensidade. Enquanto meu pai aguardava a sua vez na fila, fui ao bar e virei um conhaque. Para baixar a tensão. Em seguida um cafezinho, para disfarçar o bafo. Acendi um Minister - naquela época podia-se fumar em recintos públicos fechados e até mesmo em ônibus, trens e aviões. Ao contrário de meu pai, que só bebia, e moderadamente, em raríssimas ocasiões, tipo Natal, passagem de ano e aniversários em família, eu não deixo escapar uma oportunidade. E, se não houver, crio um pretexto. Avião? Só depois de dois uísques antes e três ou quatro lá dentro. Aprendi, depois de uma turbulência braba na rota Brasília/Belo Horizonte (BSB/BHZ), que o melhor remédio é o gim. Bastam duas doses acima da humanidade, como diria Humphrey Bogart, para se enfrentar qualquer voo. Para um mortal normal, dois gins anestesiam imediata e cmpletamente. Você se sente seguro a ponto de desafiar os céus: Cai, porra, cai! Esse negócio de medo de avião, sei não... Tenho um amigo, o Beto, que mesmo sendo piloto brevetado conheceu a sua fase de pânico. Surtou de repente, como sói acontecer. Cumpria ele a rota SPS/POA com escala em Florianópolis. Desceu da aeronave, na marra, em Floripa, e não houve quem o convencesse a retomar o seu assento. Prosseguiu a viagem em táxi fretado até o destino, Porto Alegre. O meu medo, não sei de onde vem. Não há razão para tal. A bordo, jamais um motor pegou fogo, uma turbina ou asa se soltou, nada, a não ser costumeiras turbulências. Mas continuo fiel ao ritual dos gins, que só bebo antes de encarar a fera, pois é sabido o seu potencial destruidor. 80% dos alcoólatras europeus e americanos são usuários de gim, talvez por desconhecerem a cachaça... Mas pinga e avião definitivamente não combinam, que me desculpem os nacionalistas. Acho até falta de classe. Pode ser que agora, com os aeroportos nacionais tranformados em rodoviárias, na observação de uma socialite paulista indignada com a ascensão econômica da classe C, a coisa mude. Mas continuo na minha e aconselho aos temerosos de viagens aéreas: tomem dois gins antes de embarcar. |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 3/9/2011 10:37:32 |
| Iniciação e tormento do jovem Geraldim Haroldo Costa Tourinho Filho “Mãe, temos alguma encomenda de dona Fatinha?” “Só para o mês, quando se aproximar a Exposição Agropecuária...”, respondeu a senhora de meia idade ao caçula. Suspendeu a feitura das barras de uma calça de homem, desligou a lâmpada da velha e incansável companheira Singer e suspirou. Sabia o porquê da indagação do garoto. Pensava que sabia... Também ela andava necessitada de uns cobres extras, que viriam providencialmente das meninas da casa de sua melhor cliente, a caftina Fatinha. Dinheiro certo, mentalmente contabilizado e prestes a entrar no caixa. Sim, podia sair por aí – e já não era sem tempo – a comprar fiado revistas de moda em seu Ducho, cortes de fazenda em dona Mercês, vidrilhos, miçangas e rendas no armarinho do português. Quase toda a comunidade faturava com o evento agropecuário e ela, com as encomendas que se sucederiam, veria as burras cheias. Nessas ocasiões, chegava a contratar algumas auxiliares para dar conta do recado. Ou dos bordados... Dias e noites de festa, coincidindo com o aniversário da cidade, transformavam a pequena Montes Claros num Cafarnaum. Fazendeiros, compradores de gado, leiloeiros e agiotas, peões destemidos, foiceiros e vaqueiros, barraqueiros, vendedores ambulantes, músicos e cantores, repentistas, mágicos, o homem das cobras, golpistas de todo naipe, batedores de carteira, gigolôs e rufiões advindos de recantos próximos e da Bahia acorriam à cidade, que se engalanava para recebê-los. A prefeitura caiava árvores e meios-fios, aguava ruas para sufocar o poeirão e não poucas casas viam-se repintadas. Levas de estudantes e putas, estas até mesmo da longínqua São Paulo, desembarcavam diariamente na gare da Central do Brasil. Dias e noites de festa, quando campeavam negócios de toda sorte, crimes por vezes graves, jogatina e bebedeira desenfreadas, libertinagem sem rédeas. Um deus nos acuda! Geraldim não atinava para nada disso. Nem mesmo se lembrava da derradeira Exposição, pois é certo que, aos treze anos, a memória é curta. Recordava, sim, e como!, aquele memorável final de tarde, dois, três meses atrás? Parecia-lhe uma eternidade! Passara, desde então, a reconstituir, amiúde e compulsivamente, através do simples pensamento e do movimento das mãos, o ocorrido naquele inenarrável entardecer. Batia bola com a molecada em frente a casa quando a mãe o chamara. Que se banhasse, se arrumasse e se penteasse para fazer a entrega de um vestido à dona Fatinha. Ah, largara o jogo em segundos, na expectativa da gorjeta. Daquela vez, quanto seria...? Transportara o embrulho de papel de seda como se fora uma bandeja, estendido, para não amarrotar a roupa – recomendação da mãe. Transpôs o portão e o jardinzinho de dona Fatinha, chegou ao alpendre e tocou a campanhia. Um gordinho saltitante, mistura dos dois sexos, abriu-lhe a porta. Era o Djalma, de quem lhe contaram que fazia indecências com meninos mais velhos. Que não tivesse a ousadia! Atmosfera pesada... No salão, homens e mulheres fumavam e bebiam e dançavam e riam envoltos na penumbra por densa fumaça. Cortinas de veludo escarlate vedavam parcialmente o recinto. Na eletrola, o bolero sucesso das paradas: Boneca Cobiçada. “Madame encontra-se em seus aposentos, vamos até lá”, disse o andrógino tomando-o pela mão. Anestesiado pelo cenário deixara-se conduzir, mas, caindo em si, desfez o enlace e enfiou a mão num bolso. Ah, besta ele não era... Os aposentos da afamada proxeneta ficavam entre dois banheiros ao final do corredor. Haveria ali uns vinte quartos... Dona Fatinha ocupava um banquinho redondo diante do espelho de ampla penteadeira, repleta de potes de beleza, escovas de cabelo, perfumes e bibelôs. Achava-se em roupa de baixo: corpete vermelho, ligas e meias pretas. Nos pés, pantufas cor de rosa. Pediu que ele tomasse assento e a Djalma que se retirasse. Logo o atenderia, ao acabar de se maquiar. Sentado naquela poltrona cuja almofada afundara gostosa e lentamente com seu peso, correu as vistas pelo quarto – ou aposento? – enorme e ricamente mobiliado. Cortinas cerradas, ali a luz solar não penetrava – um lustre de cristal e abajures dispostos estrategicamente encarregavam-se da iluminação. Os quadros chamaram-lhe a atenção: uma sereia sobre a camona de metal dourado, dois querubins se abraçando e uma linda mulher, pelada, de corpo inteiro. Seria dona Fatinha quando jovem...? Pena que uma haste com uma flor, empunhada pela donzela, lhe tapasse o essencial... Só não dava para entender o que faziam ali, no chão, num canto do quarto ao lado da penteadeira, uma bacia com uma jarra dentro. De certo para lavar os pés... “Só mais um minuto, meu anjo, o tempo de aplicar a pinta na bochecha”, disse a meretriz. Súbito, fazendo girar o banquinho, mostrou-se de frente para ele, ergueu os braços num gesto teatral e perguntou: “Então, como estou?” “Linda, maravilhosa, vai abafar no salão!” “Obrigado, meu doce, você é um perfeito cavalheiro. Venha, venha cá dar um beijo na tia!” À sua aproximação ela se pôs de pé. Passou-lhe as mãos pelos cabelos e um lencinho rendado na testa suada. E observou: “Vê-se que o meu homenzinho está botando buço... Cadê o beijo?” Ia dar-lhe um beijo na face rosada, mas a safada se antecipou e colou os lábios nos seus. Imobilizado, não sabia o que fazer. De início o contato labial lhe pareceu bom, mas, quando ela enroscou a língua na sua foi como se uma lagartixa lhe entrasse pela boca. Enjooso, eca! E o assédio prosseguiu: “Você já tem pelos lá embaixo?” “Nas pernas ainda não...” “Digo no pinto...” Ele corou. Ela pediu pra ver. Ele disse: “Tenho poucos, mas raspo e esfrego querosene pra crescerem logo.” Ela riu e comentou: “Isso de nada adianta. É como esses meus cremes, jamais me trarão de volta a juventude.” “Já posso ir? perguntou ele. “Ainda não, preciso que me abotoe o vestido.” Era botão que não acabava mais, da bunda à nuca. Enquanto lutava com as casas ainda virgens, ela propôs iniciá-lo nas artes do amor. Mas não seria a felizarda, e, sim, uma menina recém chegada de Patis. Que ele permanecesse ali, que logo a afilhada viria atendê-lo. Fora bom demais, porém, super rápido. “É assim mesmo”, dissera-lhe a instrutora, “menino novo é como galo, com a prática o gozo vai se estirar.” Tudo acabado, ao ver Mariazinha dirigir-se a um canto do quarto, verter água na bacia, acocorar-se e lavar-se, entendeu a serventia do que antes lhe intrigara. “Correu tudo bem?” perguntou a mãe ao vê-lo de volta não cabendo em si de contentamento. “Sim, e na saída dona Fatinha me serviu doce de mamão com queijo e ainda me deu vinte cruzeiros!” “Guarde-os, ponha no cofrinho, filho. De grão em grão a galinha enche o papo.” “Cofrinho? Saiu um novo álbum de figurinhas e há um mês não vou à matinê do Ypiranga!” |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 15/11/2010 17:32:42 |
| Ainda Cândido Canela (1910-2010) MUDANÇAS II Isturdia, naquela homenage, Fiquei mei qui mei da viage, Dado as regra de cumpusição. Fui pruibido de ir mais além, Falá sobre tudo, mal ou bem, Comentá nossa transformação. Tenho tendença a falá mal, Talvez isso num seja normal, Mais num aturo coisa errada. Daí ispiculá co`a verdade, Do qui acuntece na cidade, Desde sua troca de morada. Cumpade, só veno pra crer, Co`os ói qui a terra há de cumê, Como anda a sem-vergunhice. Da violença, nem se fala, Mata-se e o povo se cala, Minino num vê a vehice. Fala-se qui a Lei do Silenço, Vencerá enfim o baruio denso, Das nossas noite indurmida. Um basta nos carro de som, Um chega nos buteco bafon, Viva a qualidade de vida! Foi-se todo aquele chêro, As rua virou chiquêro, Puvim mais mal-educado! Nem as praça é respeitada, É bicicreta nas calçada, E lixo pra todo lado. Fique onde istá, cumpade, Nóis mora noutra cidade, Não se avexe pra vortá. Vai vê o qui num quiria, Tudo aqui é agunia, Aí é qui tem manjá. |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 4/11/2010 20:25:10 |
| HOMENAGE A CÂNDIDO CANELA (1910-2010) MUDANÇAS 0s tempo mudou, cumpade, Moc é outra cidade, Do seu passamento pra cá. Iantes as ispinha de outrora, Do que minhas ruga de agora, Sem sabê no qui vai dá... Misera, misera a esmo, Pobreza, pobreza mesmo, Quase não mais se vê. E nem qui seja garranchano, Nem qui seja suletrano, O povo iscreve e lê. Gente danada de festêra, Nos crube ou nas fêra, Mais se incontra é fulião. Forastêro de todo o mundo, Vem cunhecer a fundo, As pinga da região. Mas nem tudo é só beleza, Também tem muita tristeza, Na nossa princesa do norte. É moto, sedã e lotação, Incheno de fumaça os pulmão, Sem contá o tanto de morte. Outra praga é o tal do craque, Diz qui é cocaína de araque, Mais mata qui nem furmicida. Isturdia, pela Matriz, Andava eu, todo feliz, E um minino saiu da vida. Se ocê ressuscitá, Cumpade, é mió ficá onde está, Do que correr pro céu de novo. Montes Craro né mais aquela, O progresso deixou sequela, Mudou inté a cara do povo. |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 7/10/2010 13:30:34 |
| QUENTÃO, PAÇOCA, CANJICA E MORTE *Em homenagem ao bom amigo Edson Luís de Souza, cantor, multi-instrumentista, mulherengo e compositor, que nos permitiu recriar parte de sua caudalosa infância. Querido Edson, Muitos já escreveram do Além... Meu velho amigo Brás Cubas, um deles; Patão, outro, para ficarmos nos dois. Assim como eles, encontro-me em paisagens siderais anos-luz das luas de Vênus... Pego da pena de ouro e passo a relatar. Aos 19 anos apaixonei-me per-di-da-men-te, digo sem qualquer arrependimento. De conformidade com o figurino de então, casei-me com a eleita no cível e na Santa Madre Igreja e aos 20 fui pai. Só tivemos um filho – você – e vivemos num bembom até a coisa acontecer e precipitar o encerramento de minha curtíssima e malfadada carreira terrena. Como sabe, morri aos 27. Como se dizia na época, por volta dessa idade amiguei-me, amasiei-me – palavras horríveis, comparáveis a agiota e assassino – com uma beldade dona de pequena mercearia do bairro. Eu, 26/27, ela, 34. Que fogo! Nossos encontros casuais, fortuitos, passaram a se amiudar. Carol não me queria – exigia! Eu, nem tanto. Mas fui deixando o barco correr, a correnteza me levar... Ninguém sabe como isso acontece, mas acontece! A literatura romanesca aí está para atestar. Eu as amava, Marina, sua mãe, e Carol, a amante, sem saber ao certo para qual lado me inclinar. Propus-lhes compormos um trio, uma espécie de ménage, ideia que a legítima descartou com um olhar que ainda me faz gelar. Que mulher! Derrotado em minha sabedoria salomônica, nos separamos e passei a viver com Carol, coabitar. Ah, como eu sofria com a minha não assistência devida ao pequeno Edson, que ficara aos cuidados da avó materna e cujo talento musical daqui vi desabrochar. Que se cuidem, Dick Farney e Cauby... Afinal, Edson Luís é filho de um trompetista genial. Viva o Edson! Meu filho, dado à inevitabilidade da morte, é realmente um privilégio Aqui estar, mas, confesso-lhe candidamente e aos possíveis leitores desta missiva (espero mais de um), que gostaria mesmo é de estar aí, na Terra, no quente e na hora! Aqui simplesmente não há querer, prazer, poder, ambição, nenhum sentimento ou emoção. Felizmente, também não há dor... E assim viveremos para todo o sempre, aff! Eterna e enfadonha verdade. Voltemos ao meu curta, para muitos inverossímil. O fato é que eu adorava canjica. Canjica, aquela iguaria esbranquiçada, meio cremosa, preparada com milho especial, leite de vaca, côco ralado ou aos pedacinhos, açúcar e canela em lascas, uma espécie de mingau. O homem morre pela boca, disseram alhures. Comprovei. Bem, na minha derradeira festa de São João em casa de sua vó, repeti a melhor canjica que até então havia saboreado. Divina! Cá no céu, com o perdão de todos os santos e querubins, só há disponível um manjar-branco insosso, sem calda ou ameixa, sem graça, imitação barata, pirata, da boa e autêntica canjica de origem africana, da Guiné. Afirmam que esta é afrodisíaco, dá tesão, embora por Aqui ninguém, ops, nenhum espírito possa recordar o que vem a ser isso... Basta de digressões desnecessárias e blasfematórias! Retomemos as cenas que darão corpo e alma a estas linhas. Como disse, você passou a morar com sua amada avó depois que sua mãe e eu nos desentendemos de vez, sem qualquer ação bélica ou coisa que o valha, registre-se. Cada qual seguiu o seu destino. Ficaram-me a saudade e o amor pelo pequeno. Filho que sou de pais separados, ficava a imaginar o que o meu não devia estar passando, embora sob a guarda da boníssima e serena vovó Lourdes. Pero, hijo mio, la nave va, the life goes on, a vida segue seu curso, comme il faut, não é assim? Oh, naquele dia, ou antes, naquela noite de São João que só post-mortem descobri fatídica, Carol, a amada-danada, me envenenou! Surpreso, o senhor? Surpresa, a senhora? O veneno existe antes do homem, soube Aqui, em profundidade. Morri sem me dar com a causa. Relembro-me vagamente que, depois de dois ou três quentões acompanhados de mancheias de paçoca retirada de uma gamela coletiva, tomei uma segunda tijela de canjica a mim gentilmente servida pela doce Carol... Em seguida a um pé de moleque, degustei uma caneca de café preto, forte, adoçado com rapadura e um biscoito fofão... Hummm, nunca mais... Após simples e frugal e festivo repasto, baforei um inóquo cigarrinho de palha manufaturado pelo amigo Serginho e... dizem que, sorrindo, apaguei. Não me contorci, não verti nada pela boca ou demais orifícios corporais, não agonizei, nada disso. Parti, voei para o infinito feito um passarinho, aboletado na rede da varanda que dá para o quintal da casa. Ficaram-me na retina o brilho já então embaçado da fogueira e o desvanecer da imagem dos dançarinos de quadrilhas, forró e lundu... De imediato, uma sombra cinza, negra, indefinível, veio se adensando, tomando corpo, cobriu tudo e me envolveu... Breu total... E nada mais. Fui-me! Triste e injusto fim! Ressuscitei (seria eu mesmo) no purgatório, triagem obrigatória e, no meu caso – fiquei estupefato -, rápida escala para o céu. Explico: como não me via incluso em outros pecados graves, ditos cabeludos, meu temor era o de ser julgado e condenado por adultério, concubinato, bigamia... Cheguei a suar frio... Mas, pelo que me foi dado a observar, práticas sexuais não são levadas em conta por ali – mero comportamento animal... Despenam, de forma igual, de tais humilhações, o furto, se consumado com o intuito de se alimentar... Ah, cá nestas esferas tudo é perfeito! Entretanto, matar alguém, seja qual for o motivo, excluídos o estado de necessidade ou algum outro imperativo categórico, ou submeter o próximo a constrangimento físico ou moral, constituem atos imperdoáveis, inafiançáveis – todo o plenário mostra-se não indulgente em tais casos. Daí a sentença inexorável, proferida por algum arcanjo de plantão: fogo eterno! Vi coisas e muitas, ali, que posso testemunhar. Pessoas, para muitos insuspeitas, pré-atiradas ao hades, notadamente genocidas e torturadores – Hitler, Mussolini, Stalin, Mao, o general Custer e outros de menor calibre ainda purgavam aguardando julgamento. Kennedy, o John? Lá estava, na fila interminável... Vietnam? Que coisa!, diria o general McArthur... Crimes outros, bárbaros, porém perpetrados por atores secundários, são julgados sumariamente, pá-e-bosta, ou seja, direto pro inferno! Foi o que pude constatar por ocasião de minha breve passagem, digamos assim, formal, pelo purgatório, uma espécie de passagem pela alfândega... Tudo isso me levou a concluir não ser a burocracia uma invenção de humanos... Ao cabo, voltemos à causa de minha prematura e descabida morte, da qual só saberia depois. Depois? Sim, inexistem Aqui conceitos de tempo ou de espaço. Tudo simplesmente flui, eterna e celestialmente... Como me fazer entender? Vou resumir: foi sua velha e arguta vó quem atinou com a coisa toda, coisa do diabo, disse-me meu anjo da guarda. Ela, dona Lourdes, com a sua peculiar perspicácia, notou que naquela noite Carol estava mui suspeitosamente carinhosa comigo. Quando ela, sua vó, estava para servir-me a canjica, Carol – desajeitamente – interveio: “a canjica do meu amor, só eu quem dou...” Como ninguém chegou a passar mal e só eu viria a morrer... Oh, não sei nem quero mais saber o que aconteceu – fico apenas a pensar se Carol não teria descoberto ou suspeitado de meu incipiente romance com Marly... Nada mais importa, não nutrimos Aqui o sentimento de vingança. Naqueles em que leio o pensamento: “Uai, você não está no céu, onde tudo se sabe?” – respondo: “Nem tudo, meus caros. Ainda estou para deslindar o mistério da Trindade. Do pai que muito lhe quis e quer, Antônio de Souza Oficial Tenente da Banda de Música da Polícia Militar de Minas Gerais |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 21/9/2010 12:36:06 |
| O CASAMENTO DE HÉLIO Muito se escreveu e muita tinta ainda vai rolar para se falar sobre essa personalidade ímpar que acaba de nos deixar: Hélio de Castro Guedes. Deve-se a seu pé, planovalgo flexível (pé chato), o apelido, Patão. Agudo observador, desenhista de mão cheia, pintor de telas que retratam a paisagem rural norte-mineira (notadamente seus vários céus e "quebradas") e o casario colonial de nossas cidades (dentre elas aquela que mais amou, sua terra natal, Montes Claros), Pato foi também figurinista (para quem não sabia), decorador de vitrines e de não poucos carnavais de rua e clubes e festas de agosto - catopês -, animador cultural, instrumentista (gaitas de todos os tipos, teclados, guitarra e violão), luthier, afinador de piano (possuía o raríssimo dom do "ouvido absoluto"), arranjador e compositor de alguns jingles e canções, cantor (sublimes back-vocals), folclorista (co-fundador do grupo Banzé) e, por influência dos Beatles e Rolling Stones, integrante (guitarra e vocais) da primeira banda (na época chamava-se "conjunto") de rock de Montes Claros, Os Brucutus. Paralelamente a essas atividades, criou e pintou placas, faixas, cartazes promocionais e camisetas, concebeu out-doors, banners, rótulos para vários produtos, bottons e o que mais se fizesse necessário ao seu desempenho como publicitário. Autodidata, tornou-se desenhista e animador gráfico de grande sensibilidade após varar noites diante do computador. Dominou a máquina. Esse foi o Patão técnico, profissional. Escritos outros certamente ampliarão o tema e abordarão as demais facetas e os inúmeros matizes dessa curiosa figura humana. Hoje, aqui neste espaço, daremos apenas uma amostra do lúdico, irreverente e pueril que a compuseram, ao tornar público os percalços do seu matrimônio. Numa madrugada de um dia qualquer nos idos de 1993 estávamos, Pato e eu, aboletados em uma daquelas mesas do querido e saudoso bar e restaurante Papai, ali no final da padre Augusto com Afonso Pena. (en passant: algum tempo depois, a segunda demolição desse templo da boemia - que já ocupara o ponto defronte quando da primeira - decretaria o fim da vida noturna na área central de Montes Claros. Um crime! O abrigo da fina flor de nossa intelectualidade deu lugar a uma garagem de automóveis, em nome do progresso... A tristeza foi tanta que, um a um, seus frequentadores/fundadores vêm tombando... Indigne-se, prezado leitor!). Calados por algum tempo, pois entre velhos amigos muitas vezes bastam um gesto ou um olhar para o que pensamos seja expresso, eis que ele, de chofre, revelou-me: - Cabaret, sabe aquele meu casamento com a Rosana?... Tudo não passou de um embuste, uma farsa! Fiquei apoplético. Fora padrinho do casal, imaginava que se desse bem... -Vamos tomar mais uma que lhe conto tudo - acrescentou ele. E comandou ao garçom: - Bill, uma cerva e duas Viriatinhas! - Não vou de pinga, não, Pato - disse eu. - Vai, sim, ou não lhe conto nada! - Então anda, desembucha! - cobrei. - Deixemos a bebida chegar - disse ele rindo à socapa, se sacudindo. Bill veio, depositou a garrafa e os copos sobre a a mesa e ficou por ali,dado que era a ouvir conversas alheias. Pato não titubeou: - Desembaça, garoto, que o papo aqui é de família. Acompanhando Bill se afastar por cima das lentes, tirou os óculos, voltou-se para mim, olhou-me nos olhos e, com o cenho ainda franzido, iniciou o relato a seguir. - Sabe aquele padre que fez o casamento? Lembrei-me. Tipo bonitão, aparentando uns 35 anos, alto, forte,cabelos pretos, barba feita, perfumado... Paramentado em seda, tudo finamente bordado... Eu nunca vira um padre igual. - O primo de Rosana? - Que primo que nada! Aquele padre é um embusteiro, um charlatão, casamenteiro profissional. - E o sacristão? - Outro safado! Relembrei os dois e o cenário do casório, impecável: toalha e paninhos de linho sobre um aparador improvisado em altar, velas e castiçais, a Bíblia numa estante ao lado, cálice dourado e hóstias (o padreco dera comunhão aos nubentes e a quem até o altar se adiantou)... E como falava bem, um verdadeiro ator! E a papelada que nós, padrinhos, assinamos? Tudo em perfeita ordem... Pato era um gênio, forçoso reconhecer. Virei a pinga de um só trago. - Agora, seu sem-vergonha, vai me contar tudo, tintim por tintim! Acontecera o seguinte: Ele havia construído um charmoso sobradinho nos fundos da casa da mãe e para lá se mudou. Queria maior privacidade e fazer das suas longe do olhar inquisitorial de dona Júlia, minha querida e amada segunda mãe, porém, catolicíssima e intransigente ao extremo quando o assunto era sexo fora do casamento (ah, suas ex-empregadas domésticas que o digam...). Bem, essa mudança do Pato dera-se muito tempo antes de ele resolver se casar. Aliás, nem mesmo conhecia a futura mulher. Mas, quando se decidiu pelo passo fatal, sobreveio o impasse: dona Júlia jamais iria admitir que o casal ali se acasalasse e fornicasse, intramuros, em domínios seus, sem que a união de corpos fosse abençoada e sacramentada pela Santa Igreja Católica, Apostólica e Romana. Jamais! Rosana, a noiva, era divorciada, impedida de recasar na Igreja. Imagino que, se porventura Julinha viesse a sonhar ou a saber desse fato, impediria até mesmo o namoro: "Andando com mulher descasada, Hélio?!" - Como descobriu o padre? - perguntei. - Foi Reginauro Silva quem arranjou tudo. - Ardiloso, esse Regi, mas, como foi mesmo? - O padre era ator de comerciais de uma a agência prestadora de serviços à Globo. Reginauro o conheceu no Rio. O velhaco celebrava casamentos em todo o Brasil. - Estou me recordando do almoço de domingo, dia seguinte ao casamento. Ao retornar da missa das oito na Catedral, Julinha ligou para o hotel do padre. Queria saber dele o prato predileto, pois resolvera homenageá-lo com uma refeição em família antes que tomasse o avião de volta ao Rio. Atendeu-a o sacristão, visto que o galã ainda dormia. O que ela estranhou, porque imaginava que padre acordasse às cinco da matina, tomasse banho frio e passasse a ler o breviário ainda em jejum. "Acho que é bacalhau, dona Júlia", informou-lhe o sacristão. Foi um corre-corre na casa. Onde encontrar bacalhau àquela hora de um domingo? Acordaram Beto, que, ressaquiado, resmungando, saiu de carro a atender às ordens da mãe: "Traga-me esse bacalhau, mesmo que vá buscá-lo em Portugal! E não me volte sem um bom azeite e vinhos!" Nervoso - o nervo passageiro dos Guedes -, Beto ainda tentou ponderar: "E o sal, e o sal, como a senhora vai dessalgar o bacalhau?" "Isso é comigo" - disse ela. "Muitas águas, batatas, leite, panela de pressão e uma oração e a Providência divina tudo resolverá." Mas quem resolveu mesmo foi Beto e quem providenciou fui eu. Ele me acordou tão logo saiu de casa. Estava sem saber o que fazer. Bacalhau, àquela hora, onde? Estava tudo fechado. Fui prático: "Elementar, meu caro Watson, vamos ao Armando!" Liguei para Julinha e disse-lhe que teria o bacalhau, pronto, ao meio-dia. Encaminhamo-nos, Beto e eu, ao restaurante, onde encomendamos o prato, o azeite e os vinhos e ainda rebatemos a noitada da festa. - Esses Guedes... - comentou Patão. - Mas deu tudo certo, velho. O almoço foi um sucesso. Você precisava ter visto Beto, adorou o padre. Disse-me: "Isso é que é padre, jovem, aberto, sem grilos..." Até mesmo seu irmão, Zeca, que tem birra do clero, simpatizou com o moço. - É, esse meu casamento foi mesmo uma novela. Para mamãe aceitar o fato de que a cerimônia seria realizada na casa dos pais de Rosana, você é incapaz de imaginar a mão de obra que foi. Queria porque queria a Catedral. - O que fez para convencê-la? - Disse-lhe que havíamos procurado e não encontrado horário em todas as paróquias da cidade, que em maio era assim mesmo etc e tal. Mas, quando achei que havia cedido, ela ameaçou recorrer ao bispo, seu grande amigo dom José! Aí seria o fim do sonho, desvelariam a trama. Já pensou se o bispo resolve celebrar, ele próprio, o casamento em palácio? Para a velha seria a glória, a manifestação divina de sua fé. Eu, meu caro, suava frio, mas com o argumento de que a casa de Rosana vinha sendo pintada para o evento e alguns detalhes mais, ela deu-se por vencida, mas, que luta! - Quem bancou a produção da novela? - Os pais da noiva, ora bolas! - Ah, quando Julinha souber disso... - Se contar a ela eu lhe mato! Cabaret, Cabaret, olha lá, hein? Vai perder um amigo... - O tempo tudo cura, Hélio, o episódio já vai para três anos... - Pra mamãe o tempo não passa! Esperei um ano. Uma bela tarde, sentados Julinha e eu no alpendre de sua casa, a esticar prosa como amiúde fazíamos (ela sempre exortando-me a frequentar a Igreja), não resisti ao segredo. Contei-lhe tudo. Sua reação? Riu à bandeiras despregadas, porém, raciocinava nas gargalhadas, pois logo retomou o ar sóbrio e me indagou: - Quer dizer que o casamento não valeu? - Não, Julinha, pelo direito canônico o casamento é nulo! - sentenciei. - Deus é grande e é pai! Escreve certo por linhas tortas. Hélio ainda haverá de se casar na Catedral! - rejubilou-se minha amiga. NOTAS: 1. Escrevi estas mal traçadas linhas logo após as exéquias de meu amigo Pato, em 03.07.2008 (ele nasceu em 26.01.1948). Deixei para publicá-las agora (20.07) receoso de que a Igreja pudesse lhe negar a missa de sétimo dia. Explico-me: em tempos de Bento XVI, a revelação de uma heresia de tamanha magnitude poderia não passar despercebida... 2. Foi muito bonito o enterro do Pato. Bonito? Sim, e por que não? A tarde desmaiava, reproduzindo os seus quadros, e a flauta de Rapha Milo e o violino de Gabriel Guedes, seu sobrinho, emocionaram a todos. Só não gostei do colete com o qual partiu - cinza -, quando poderia ter ido com o psicodélico ou o dourado que lhe presenteei o ano passado por ocasião de seu aniversário, advertindo-o: "Pato, este é um colete para palco, não para Café Galo ao meio-dia!" E ele: "Cê acha que eu sou doido, Cabaret?" E eu: "Você?..." Patão adorava paletós e coletes e desses últimos contabilizava 27 unidades. |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 12/9/2010 10:02:24 |
| O amigo Raphael Reys - (Que nome e grafia, hein? Lembram um ator ou cantor de tango...) solicita-me por e-mail que eu registre em texto algum forte impacto quando da minha primeira ida a Belo Horizonte. É natural que nós, mineiros do interior, descubramos na capital a cidade grande. Darcy Ribeiro, por exemplo, narra em Confissões que a conheceu aos 16/18 anos. Quedou-se admirado, de boca aberta, com o movimento na praça 7. Jamais vira tanta gente pra-lá-e-pra-cá, automóveis, bondes apinhados de povo. Abordado por um travesti, espécimen desconhecido, se a seguiu não confessou... Comigo aconteceu diferente. Filho de pais baianos, meu destino seria outro: Salvador. Como na letra da canção, a primeira Coca-Cola e o primeiro misto quente me foram servidos nas asas de um DC-3 da Panair do Brasil, empresa aérea que cumpria o percurso São Paulo-Belo Horizonte-Montes Claros-Pedra Azul-Ilhéus-Salvador. Ali, na capital baiana, viviam meus avós e ainda mora a maior parte da família. À chegada, impressionou-me a imensidão do mar, como sempre ocorre aos que o veem pela primeira vez, principalmente da janela de uma aeronave. Nas piscinas naturais da praia de Ondina, o menino de 4/5 anos comprovou que a água era salgada, causava forte ardor nos olhos, mas logo se acostumou. Vim conhecer BH aos 9 anos. Ficamos hospedados, eu e meu irmão Roberto, então com 7, na casa de nossos tios Mário e Anésia. Aguardava-nos o querido primo Carlinhos, que sempre nos visitava em Moc acompanhado de outro primo, este por afinidade, Marcinho Bessone, por ocasião das férias escolares. Quando aquele quarteto se reunia era um deus-nos-acuda! O antigo trem baiano (Maria Fumaça) conduzira-nos à capital. Novidade para mim e Roberto, pois ainda não havíamos viajado em trem. Tomamos um dos beliches alinhados ao longo do carro-leito. Nós dois engaiolados na cama superior e nossa mãe na de baixo. Não me lembro de vagão contíguo, com poltronas, para que pudéssemos sentar, uma vez que a viagem consumia cerca de dezoito horas... Excelente, minha primeira impressão de BH. No táxi, durante o trajeto até a casa de meus tios, mamãe nos chamava a atenção para os contrastes entre as duas capitais. Belo Horizonte, ao contrário da Salvador de então (que visitávamos anualmente), possuía largas avenidas, limpas, belos edifícios e praças monumentais. Era uma cidade moderna, planejada - nos ensinava dona Lourdes - para ser a nova capital do estado, em substituição a Ouro Preto. Nosso saudoso Roberto, desde sempre espirituoso, saiu-se com essa: "É, mas aqui não tem praia..." Chegamos numa manhã de sábado e, no almoço, lá já estava Marcinho. Iniciamos uma partida de banco imobiliário que varou a tarde. À noite, fomos ver tia Olívia, mãe de Márcio e minha madrinha, casada com Waldir Bessone. Retornamos com Marcinho e sua mala, pois ele não queria deixar os primos. - Vocês vão matar a pobre da Anésia - disse tia Olívia referindo-se aos quatro pimpolhos e à sua irmã. Mal sabia ela que seria a próxima vítima: dali a uma semana o endiabrado quarteto pousaria em sua casa para uma permanência de dez dias. Tia Anésia já não aguentava mais. Varávamos as noites no banco imobiliário, discutíamos e, antes de dormir, a guerra de travesseiros era sagrada. Mas aqueles outros dez dias foram de pouca turbulência. Tio Waldir mostrou-se sábio, providenciando-nos convites para o Barroca Tênis Clube. Após nadar e bater bola (bater baba, em Salvador) a tarde inteira, depois do banho e do jantar o time entregava os pontos: cama! Ainda assim chegamos a eletrocutar um gato raivoso. Andávamos sozinhos em BH. Tomávamos o trolleybus (ônibus elétrico enorme, silencioso e não poluente) na avenida Amazonas e descíamos, ou saltávamos, como dizem os baianos, no centro da cidade. Nas tardes de sábado e domingo, quando o trânsito e o movimento geral diminuíam, tínhamos permissão dos pais para irmos desacompanhados às matinês. O que mais me impressionou em BH foi o número de cinemas, 32. No Candelária (praça Raul Soares) as poltronas reclinavam... Assistimos a fitas no Tupis (depois da reforma, Jacques), Tamoios, Acaiaca, Guarani... Os mais luxuosos eram o Metrópole e o Art-Palácio, este com ar-condicionado, uma novidade para mim. Pulgas, e muitas, pululavam em todos, acarpetados que eram. Outra forte impressão causaram-me o número e o tamanho das lanchonetes. Em Salvador havia poucas delas, na verdade cafés, ao longo da rua Chile. Em Moc, a primeira acabara de ser inaugurada: Crystal. Depois viriam A Cubana e Cambuí. Mas nenhuma dessas se comparava às de BH. Após as matinês íamos à Odeon - enorme e lotada -, localizada ao lado do edifício Acaiaca, na Espírito Santo. Misto quente, sundae, milk- shake... Que farra! Hamburguer, cheeseburguer e batata frita surgiram mais tarde para envenenar a meninada. Entretanto, apesar das delícias que BH proporcionava, após três semanas eu já queria voltar pra Moc. Os meninos de lá não andavam de bicicleta. E a Monark sueca, recentemente ganha por ocasião do aniversário, me aguardava. Montado nela, estilingue (ou atiradeira) ao pescoço, canivete na cinta e varinha de pescar, acompanhava a turma na exploração de toda a cidade e arredores. Estilingue em BH chamava-se bodoque e era comprado em loja, industrializado, todo em borracha e plástico. Em Moc, selecionávamos os galhos bifurcados de goiabeira ou jaboticabeira para o gancho, a câmara de ar que proporcionasse a tensão desejada para as tiras, e o couro ideal, macio, de bezerro ou cabrito, em alguma selaria próxima ao antigo mercado. Ainda há, sim, muitas vantagens em serviver menino de interior. *Raphael Reys, salvo engano, pretende publicar um livro contendo experiências como a narrada acima. Obrigado pela atenção. |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 8/9/2010 10:15:36 |
| DOIDONA PSICODÉLICA Corria o ano de 1968. Aproximava-se o evento mais importante e concorrido do calendário golefestivo de MOC: Exposição Agropecuária. Férias de julho!, ardentemente aguardada pelos estudantes locais e pelos que residiam fora. Estes acorriam em massa e ainda traziam primos e amigos à então pequena urbe de 70000 habitantes. As casas se enchiam de colchões e travesseiros para acomodar toda aquela gente. Àqueles que não podiam contar com a nossa reconhecida hospitalidade restavam três razoáveis hotéis: São José, São Luiz e Santa Cruz, o único sobrevivente. Os imprevidentes ou de poucos recursos aboletavam-se em sofríveis pensões, familiares, espalhadas pelo centro da cidade. Bianual, o evento durava apenas quatro dias. Paralelamente à mostra no Parque João Alencar Athayde, o Automóvel Clube realizava quatro grandes bailes. Suas duzentas mesas tornavam-se insuficientes para todos que pretendiam deles participar. Resultado: muita gente de pé nas varandas, nas mesas da pérgula da antiga piscina ou no restaurante. Festas memoráveis, com shows de alto gabarito: Roberto Carlos, Elis Regina, The Jordans, Renato e Seus Blue Caps, Moacir Franco, Agnaldo Rayol, Vanuza, Jair Rodrigues, Ronnie Von, Wanderleia, comediantes como José Vasconcelos e Zé Trindade, vedetes, todos pisaram aquele palco. Ponto negativo, vexatório, as brigas que não raro se estendiam pelo salão. Deixavam péssima impressão nos visitantes. Brigava-se por dá-cá-aquela-palha: um olhar enviesado para uma mulher casada, uma brincadeira qualquer com a namorada de outrem... Felizmente não se matava ninguém. A contenda resolvia-se no tapa, socos, pontapés, pescoções, garrafadas e cadeiradas. Não há registro de armas de fogo ou brancas. Credite-se ao excesso de álcool tais manifestações de barbárie. O Parque de Exposições, àquela época, constituía-se do pavilhão central, como ainda hoje, do cercado onde acontecem os rodeios, alguns currais e banheiros. Filas imensas para um simples xixi. Carga mais pesada ninguém se atrevia a descarregar. Senhoras da sociedade dirigiam-se aos banheiros dos escritórios da Rural. O resto era pó, terra batida e, com a água lançada pelos caminhões-pipa, lama. João Avelino se lembra de ali ter ouvido, pelos alto falantes do tipo corneta, a irradiação de um dos jogos da Copa do Mundo de 1958, na Suécia. A TV só viria quase duas décadas depois. Os rodeios, animadíssimos, com os locutores botando fogo na assistência: "Vai, vai, cutuca nêgo duro!" bradavam, incentivando os peões que se candidatavam aos prêmios em dinheiro ou à quedas hilariantes. Para onde se olhasse, gente e mais gente. Ricos, pobres, remediados, todos se misturavam. Arquibancadas lotadas no pavilhão central. Ao lado o restaurante, onde se podia apreciar um belo churrasco de alcatra, contrafilé ou carne de sol com dois pelos. Picanhas, maminhas, fraldinhas e outros cortes sofisticados nos eram desconhecidos. Nos cinco bares localizados no térreo do pavilhão bebia-se de tudo. Os mais abastados iam de Cavalo Branco (White Horse) e Old Parr, uísques então em moda. Uma área contígua, coberta e cimentada, destinava-se à exibição de produtos da terra: espigas de milho híbrido - uma novidade -, abóboras gigantes, mandiocas descomunais... Licor de pequi, da marca Corbi, cachaças da região (Claudionor, Dominante, Ferreirinha, Lua Cheia...), farinhas, requeijões, rapaduras e doces outros também tinham ali o seu lugar. Filhos de fazendeiros desfilavam em garbosos mangalargas e campolinas devidamente ajaezados. Trajavam-se como cowboys norte-americanos: botas de cano alto, esporas, calças Lee, Levi`s ou Wrangler, cinturões largos com fivelas de prata, camisas xadrez de manga comprida, coletes, lenços ao pescoço e os indefectíveis chapelões (alguns Stetson). Só lhes faltavam os revólveres, substituídos por canivetes ou facas nas bainhas (para descascar laranjas...). Potros e piquiras traziam alegria à meninada, juntamente com o parque de brinquedos. Ao morrer da tarde a música, que já vinha acontecendo aqui e ali, espalhava-se por dezenas de barracas. Acordeões, sanfonas, pandeiros, violas, violões... Arrasta-pé Arretado! era o nome de uma dessas tendas. Não sei bem de quem foi a ideia de se montar uma barraca no parque. Sei que dezessete sócios foram necessários para integralizar o capital (1500 contos): Raimundo Neto, Waninho Antunes, Carlúcio Batista, eu e meu irmão Roberto (Didu), Ricardo Milo, Patão e Beto Guedes, Paulinho Rodrigues, Luizão Guimarães, Geraldo Santana Machado, Geraldo Madureira (Grego), Reinaldo Nunes, Geraldo Carne Preta, Chico Gomes e Reinaldo Ferreira Lima. Faltou-me um... Toni Saquim? Grego nomeou o empreendimento: Doidona Psicodélica. Alugamos quatro lotes de terreno, aproximadamente 100m², e mãos à obra! Construímos um pequeno cômodo de tábuas e telhas de amianto que serviria como depósito, bar e cozinha. Pintou-o Patão, com fundo branco e alegorias coloridíssimas, psicodélicas... A um canto do terreno o palco com o pano de fundo preto. Iluminação especial. O atrativo da barraca seria a música, ininterrupta, levada por três bandas de rock que se revezariam das 15 às 21h: Brucutus (Patão e Beto Guedes, Ricardo Milo e eu), Eremitas (Grego, Luiz Guedes, Reinaldo Nunes e Herbert Caldeira) e We The Whats (Ricardo Mesquita, Aliomar Assis, Marcinho Passarim e outro garoto do qual não me lembro o nome). Inesquecíveis performances. Quem não se recorda de Ricardo Mesquita, o Jim Bordel, interpretando divinamente I started the joke dos Bee Gees? A Doidona foi cercada com estacas de madeira e três fios de corda. Abaixo, enfileirados, vasos com plantas para impedir a entrada dos vira-latas à solta no parque. Brita no piso. Nada mais foi necessário e o público prestigiou a contento - saía gente pelo ladrão. Meninas as mais bonitas chegavam em grupos. A reboque, namorados e amigos. Todos queriam ver e serem vistos e todos se dirigiam à Doidona. Namoros que acabaram em casamento ali tiveram o seu início e outros chegaram ao fim. Quase ninguém queria mesmo namorar a sério durante aqueles quatro dias de festa. E na ausência do termo hoje empregado, ficar, o negócio era paquerar, sem compromisso. Oh, que saudade da miss Diamantina, uma louraça de fechar o trânsito! Fiz questão de hospedá-la em minha casa, para desespero de Lazinho Pimenta, colunista social dos concursos de beleza e responsável pela integridade física das dondocas que convidava. Mas que não se pense naquilo quando eu disse hospedar - raríssimas garotas permitiam um avanço além das preliminares... Drogas? Não se cogitava. Muita cerveja, caipiríssimas, coquetéis fraquinhos, refrigerantes e sucos para as garotas. Talvez um ou outro garoto inalasse Kelene, um poderoso anestésico local embalado em tubos como os de lança-perfume e de efeito semelhante, vendido livremente nas farmácias. Depois foi proibido e em breve desapareceria do mercado. Sabíamos que rapazes mais velhos e mesmo senhores casados tomavam bolinhas para resistir à maratona de festas, mas, com a nossa energia de então, dispensávamos tal expediente. Maconha, ninguém sabia o que era. Cocaína? Somente em livrinhos de bolso policiais, como os FBI. Esses livros me afastaram das drogas, pois traziam experiências terríveis em suas páginas. Também não se ouvia falar em traficantes ou malas e o famigerado crack estava longe de surgir. A paz reinava nas cidades. Confesso que explorávamos a mão de obra infantil. Meu irmão caçula, Henrique (Buts), e dois ou três dos seus amiguinhos ajudavam a limpar as mesas. Podiam comer e beber à vontade e ao final da tarde ganhavam alguns trocados para brincar no parque de diversões. Nosso maior problema administrativo foi definir quem ficaria na barraca após as 21h. Todos nós queríamos ir aos bailes do Automóvel Clube, imperdíveis. Resolvemos por sorteio. Os oito primeiros "premiados" tomariam conta da barraca, fariam a faxina e lavariam toda a louça e panelas, dois deles por noite. Os demais - dois por dia - renderiam a guarda, às 8 da manhã!, e ficariam por lá aguardando os fornecedores de bebida, gelo, cigarros, carne etc. Raimundo Neto, tesoureiro, fora excluído do sorteio, pois sua tarefa não era das mais fáceis. Fiquei no segundo grupo e quando chegamos direto do parque para render a guarda, Paulinho e eu ficamos estupefatos: Reinaldinho e Grego haviam ingerido nada menos do que 32 cervejas na noite anterior! Mas estavam sóbrios e só queriam dormir. Enfim, feito o balanço, a Doidona Psicodélica foi um enorme sucesso. Não deu lucro nem prejuízo. A rigor, deu lucro - e como! -, se computado o consumo dos seus 17 sócios, músicos, alguns amigos e colaboradores. Parabéns a todos! |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 3/9/2010 11:27:42 |
| A BALADA DE TONY BOO-GOO-LOO Extrovertido foi Tony Boo-goo-loo. Conhecia praticamente todo mundo e, se não o conhecessem, dava-se a conhecer. Alegre, desprendido, brincalhão, peça rara. Oriundo de Boc-Citi, surgiu em Moc num daqueles verões dos anos dourados. Hospedou-se no melhor hotel. Gastava a rodo. Nas horas-dançantes dos clubes e residências brilhava mais do que todos ao exibir-se na dança da moda, o boo-goo-loo, substituta do twist e congêneres. Daí seu apelido. O conjunto de pernas e braços em ação dava ao dançarino a aparência de um desses bonecos mané-molengos. Tony era o melhor naquilo e logo despertou invejas. Além do mais, tratava-se de um forasteiro botando banca em Moc-Citi. "I-na-cei-tá-vel!" - bradavam alguns dos guardiões locais. Alto, moreno - um moreno hindu -, olhos verdes, tinha Tony os cabelos pretos levemente ondulados. Uma basta e bela cabeleira. As garotas caíam-lhe em cima. Mais invejas, mais ciúmes... Alguns xenófobos já planejavam dar-lhe um cacete, correr com ele da cidade. E se tal não aconteceu deveu-se à sua amizade com os músicos de uma das nossas bandas de rock, Os Eremitas, cover dos Stones e muito queridos. Desta banda tornou-se Tony o empresário. Lucros não lhe importavam. Bancava tudo: instrumentos, bebidas, comidas, farras... Vestia-se como um príncipe, um príncipe psicodélico: calças de cetim - por vezes roxas! -, botinas ou botas de verniz, camisas de seda floridas, colares... Brincos, piercings e tatuagens viriam alguns anos depois. Um velhote careta, ao vê-lo assim trajado, quase sofre um infarto: “Esse menino é transviado! Arreda, Satanás!” Com três dias de namoro, Tony presenteou a eleita com uma aliança de brilhantes. Que lhe foi devolvida pela moça, em prantos, forçada pelo pai, que esbravejara: “Onde já se viu?” Tony não se conformava: “Que coroa desnaturado! Minhas intenções são as melhores possíveis! Estou apaixonado pela Fernanda!” O idílio não venceu aquele verão, mandada que foi a pobre garota para um internato em Pará de Minas. Anos dourados?... A bomba retardada explodiu quando a conta da joalheria Coelho bateu em Bocaiuva. Seu Antônio sequer almoçou naquele dia. Ao volante de sua Rural-Willys, chegou a Moc por volta de uma da tarde. Sol a pino. O filho ainda dormia... Antes de mais nada fechou a conta do hotel. Horrorizou-se: dúzias de cervejas, vodkas, garrafas de Drury’s, pacotes de cigarros (Tony não fumava...) e notas de restaurantes pagas pela gerência... Preencheu o cheque e determinou que acordassem o moleque. Dentro de meia hora viria buscá-lo – avisou – e que estivesse pronto, mala na mão! Acabara-se a esbórnia! Dali foi à joalheria e quitou a aliança. Tony o esperava na recepção do hotel, cabisbaixo, cara de santo, arrependido... - Bonito, hein? Muito bonito! Anda, direto pra casa, vagabundo! – berrou o pai. E dirigindo-se ao gerente do hotel: - Se aceitá-lo novamente aqui, o problema é seu! Tony estivera a conjecturar o acontecido. Só podia ser a tal aliança... Na joalheria, dera o nome do pai, endereço, telefone... Há dez dias vinha enrolando o cobrador... Ao entrar no carro disse ao pai: - Sei que errei, velho... - Cala a boca! Calou-se. - Pensa que sou Onassis? - Eu ia devolver a aliança... - Devolver? - Sim, o pai da moça mandou-a recusar o presente... Aqui está. - Está ficando louco, meu filho? - Foi o amor, pai... - Ah, sim, o amor... Pois fique sabendo que vai curar essa doença no cabo da enxada! - Mas, pai... - Calado! A despesa do hotel foi momentaneamente relevada por Seu Antônio. Quanto a aliança, seria presenteada à filha mais nova por ocasião de seus 15 anos. Dias sombrios emolduravam o horizonte de Tony Boo-goo-loo. Seu sonho de estudar em BH acabara de ir por água abaixo, pelo menos naquele ano... Se quisesse, disse-lhe o pai, podia deixar Boc-Citi, contanto que fosse para um colégio interno: Dom Bosco ou Caraça... Mas, mãe é mãe, e a dele conseguiu do marido o abrandamento da pena. O moleque iria trabalhar com ele, sim, mas não no cabo da enxada. Decorridos alguns meses, Seu Antônio confiou ao filho o pagamento do pessoal da fazenda. Não era coisa de pouca monta. Havia trabalhadores fixos, dois tratoristas e a turma do milho... Lá se foi o nosso herói com uma caixa de sapatos repleta de dinheiro. No bolso, a lista de empregados. Aguardavam-no estes sentados na mureta da varanda que circundava a sede da fazenda. Ao vê-lo seus rostos se iluminaram. E Tony experimentou grande satisfação ao pagar-lhes. Abriu o escritório, tomou assento à mesa como muitas vezes vira o pai fazer, mandou servir um cafezinho a todos e deu início ao procedimento. - Seu Malaquias! – chamou o primeiro. Veio Malaquias com o chapéu na mão. Um fiapo de homem. Embora tivesse 40, mostrava 60 anos... - O senhor só ganha isso, Seu Malaquias? – perguntou Tony estupefato consultando a lista. - Inhô sim... - Pois a partir de hoje o senhor terá um aumento. - Brigado, patrãozim... - Seu Jurandir! Prosseguiu com a chamada e os aumentos salariais. Ao final o dinheiro não foi suficiente para pagar a todos... Tony prometeu voltar no dia seguinte e saldar a dívida para com os outros. Nunca mais voltou. Dizem que o pai o expulsou de casa a tiros... Verdade ou não, o fato é que Tony escafedeu-se para a casa de um tio. A mãe mandou-lhe a mala e algum dinheiro e o tio deu-lhe a passagem de trem para Belo Horizonte. Lá, a madrinha e tia financiou-lhe a ida para São Paulo, onde pretendia trabalhar. A essa altura já fizera seus planos... Na capital paulista hospedou-se com uma senhora de Boc-Citi que ali mantinha uma pensão – dona Amélia Barbosa. No dia imediato à sua chegada, pasmem!, bateu na casa de ninguém menos do que o rei do Brasil. Sim, bateu na porta de Chatô*, o magnata da mídia nacional, fundador da TV no país (TV Tupi), proprietário de dezenas de jornais e centenas de emissoras de rádio. Tocou a campanhia, veio o mordomo. - Eu gostaria de falar com o dr. Assis Chateaubriand. - Quem é o senhor? - Sou de Bocaiuva, Minas Gerais. Meu nome é Antônio Alkmim. Diga ao dr. Chateaubriand que sou sobrinho do Zé Maria. - Conheço o seu tio... Não esperou dois minutos. Foi prontamente atendido por Chateau. - Sente-se, meu jovem, que bons ventos o trazem? Que prazer! Como vai nosso ministro? - Dr. Chateaubriand, tenho uma coisa a lhe dizer... Sou de Bocaiuva, mas, infelizmente, não sou sobrinho do dr. José Maria Alkmim, a quem conheço desde menino. Ele é amigo da minha família. Desculpe-me, mas essa foi a única forma que encontrei para falar com o senhor. Tamanha ousadia conquistou o rei, que pela própria trajetória de vida várias vezes fizera o mesmo ou pior. Tony ficou para o jantar e no dia seguinte assumiu um cargo nos Diários Associados. Alguns anos depois encontramo-nos em BH, Cantina do Lucas, onde almoçamos. Ele estava impecável, metido num terno caríssimo. De São Paulo fora para o Rio, onde trabalhava numa multinacional ligada à extração de minérios. Deu-me o seu cartão de visitas. Combinamos sair à noite, que começou na Casa dos Contos, prosseguiu na boate Sagitarius e acabou no Hotel Del Rey... Nos seus anos de Rio, Tony relacionara-se com uma garota de Boc-Citi que lhe deu uma filha. Ambas, mãe e filha, aí residiam quando a menina debutou. Do Rio, Tony encomendou a melhor festa de 15 anos já vista na região: buffet, orquestra, show... Só vi o convite quando retornei de Salvador... E, de volta ao Rio, seu conversível Porsche – o que nos remete a James Dean – encontrou uma carreta na BR-3... · Vide Chateau, o rei do Brasil. Ed. Cia das Letras. Autor: Fernando Moraes · Assis Chateaubriand esteve em Montes Claros por ocasião da sua doação de uma aeronave, a primeira, ao Aero Clube local. Hospedou-se no sobrado dos Oliveira, praça da Matriz. |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 27/8/2010 17:32:17 |
| EU, PATÃO E O REI... Não sei quantas vezes o Rei apresentou-se em Montes Claros. Assisti a dois de seus shows. Em julho de 1963, mero plebeu, hospedou-se no Hotel São José. Ele e o violão. Talvez nem mesmo empresário tivesse. Também não sei se com ele aconteceu o que ocorrera uns dois anos antes a Cauby Peixoto, que teve as vestes estraçalhadas pelo histérico público feminino. Já li, ou ouvi, que as costuras das calças e paletós dos ídolos de então eram simplesmente alinhavadas. Assim, bastava um puxão para o rei ou príncipe ficar nu ou em cuecas samba-canção. Roberto, que nem príncipe era, talvez tenha escapado da multidão. Contam que, ao descobrir a amada Moc, cantou-a primeiro no campo do Ateneu, o que não posso testemunhar. Eu o vi, em carne e osso, no Clube Montes Claros. Ele e o violão. Sequer um simples pandeiro acompanhava o moço... Não foi mole entrar no clube. Seu Oswaldo Landim, comissário de menores, pai de Nivaldo e Maçarico, me perseguia. Tinha eu quase 13 anos e ele já me havia barrado em Juventude Transviada (proibido para menores de 14), no Coronel Ribeiro. Logo eu, fã de James Dean! O danado sabia a idade de todos os meninos e meninas da cidade. Salvou-me a Providência divina, na pessoa de Barreto, Antônio, diretor do clube, que me fez entrar pela porta que dava acesso às salas de jogo. Subi as escadas em dois tempos e me vi de repente no salão de baile, onde fui acolhido em mesa ocupada por amigos do meu irmão mais velho, Raymundo. Servi-me de um hi-fi (vodka com crush) para me mostrar como gente grande e desse não passei, pois logo estava meio tonto, como se anestesiado. Mas me fez bem. Vi tudo com outros olhos, as lâmpadas brilhavam mais intensamente, a fumaça dos cigarros tudo envolvia, enfim, ali estava eu. Anunciaram o cantor do momento, que deixou a mesa de uma turma de rapazes e subiu ao palco. Ele e o violão. Cantou Calhambeque, Rosa-Rosinha e outras canções que não me lembro mais. Findo o show, eu não tinha mais nada a fazer ali. Deixei o clube pela porta da frente, causando estupor em Seu Oswaldo. "Como ele entrou?" escutei-o perguntar a Zé Idálio, outro comissário de menores que depois virou detetive. Veio o ano de 1964 e lá fui eu para a terceira série ginasial. Colégio São José, educação marista. Esse educandário foi construído através de doações em dinheiro da burguesia local com o intuito de melhor ensinar e domesticar seus rebentos. Falavam que o ensino ali era "apertado", ou seja, não dava moleza ao alunado. Havia lá certos castigos, tais como ficar de pé diante de uma parede durante algum tempo ou copiar uma mesma frase centenas de vezes. Duas burrices. A primeira, porque os que pegavam parede eram sempre os mesmos, reincidentes em algum tipo de falta - talvez uma outra medida educativa surtisse melhor efeito; a segunda, porque as chamadas linhas de nada adiantavam - melhor seria a obrigação de copiar textos... A planta do São José veio da França, sede da congregação marista, fundada pelo padre, hoje beato, Marcelino Champagnat. Junho, 06, data de seu aniversário, era feriado escolar. Delícia! Excelente colégio! Lá chegávamos com uma boa base, como se dizia, proporcionada por ótimos grupos escolares, notadamente o Francisco Sá, o Dom João Pimenta e o Gonçalves Chaves, onde estudei. Corpo docente formado por professoras dedicadíssimas e preparadas. Na terceira série do marista, além das matérias tradicionais tínhamos, uma vez por semana, aulas de desenho, música e caligrafia, esta última com todo o material necessário: caderno especial, tinteiro e caneta de madeira com pena. Causavam aflição e gastura garatujar com aquelas penas... Foi numa dessas aulas de música que me aproximei de Ricardo Milo. O querido irmão Wagner, que também lecionava história, nos quinze minutos finais permitia aos alunos colocar músicas de sua preferência na radiola portátil que disponibilizava para tal. Lá foi o Milo e, para surpresa minha, botou Beatles pra rodar. Era um compacto simples com duas canções, uma de cada lado: She loves you e I want to hold your hand. "Uai, ele gosta de Beatles!" Num colégio se fazem amizades e até hoje andamos juntos. Na minha casa, papai não tinha tempo pra música. Quando as ouvia - raramente - gostava de óperas. Aída (Verdi) era a sua predileta. Mamãe gostava de tudo, talvez um pouco mais de fados e Bach. Sabia também todas as letras e melodias das marchinhas de carnaval. Boa baiana. Raymundo e Layce, irmãos bem mais velhos, estudavam em BH e, quando aqui, em férias, promoviam suas laranjas-amigas, como então eram chamadas as horas-dançantes. Foi aí que conheci seus amigos e amigas (dessas, Bisa Costa, filha de Elisa e Joaquim, era a mais bonita, alías a mais linda moça já surgida em Moc, juntamente com Luizinha Barbosa, que não me lembro se participava daquelas laranjas-amigas), que levavam discos e mais discos para embalar as noitadas. Dançavam rock and roll, cheek-to-cheek, boleros (Perfídia, El reloj, La barca...). Na nossa big radiola estéreo, potentíssima para a época, rolava de tudo nessas ocasiões: Sinatra (lembro-me da capa de A swing affair, que trazia Night and day e outra canção - a segunda do lado B - que adoro e ainda canto ao chuveiro: The lonesome road), Ray Charles, Ella Fitzgerald, The Platters, Charles Aznavour, Maurice Chevalier, Edith Piaf, Elvis, Paul Anka, Neil Sedaka, Bill Halley e todos aqueles do rock. Benny Goodman e sua clarineta, Glenn Miller, Duke Ellington, Louis Armstrong, Count Basie, Waldir Calmon e Sua Orquestra (Uma noite no Arpège...), Tommy Dorsey e todas aquelas big bands. Naquele ano de 1964, fevereiro, ouvi The Beatles pela primeira vez. Aconteceu numa loja de discos em BH. Ia passando e a coisa me pegou. Foi um choque, uma paulada, um terremoto mundial! Eram em tudo diferentes de todos, a começar pelos trajes e cabelos. Cantavam, tocavam e compunham! Nada mais seria como antes. Bandas de rock se multiplicaram mundo afora, todos os garotos queriam ter a sua e aqui em Moc chegamos a 36. O resto veio dali: sexo livre, pílula anticoncepcional, minisaia, Tropicália, Woodstock e outros festivais e o fim da guerra do Vietnan, após um movimento nunca, jamais visto pela paz, que teve em Lennon uma das principais cabeças. Ponto negativo, as drogas, com excessão da maconha, que também é remédio. Já conhecia The Beatles através de jornais e revistas. Brian Epstein, certamente o maior e mais inventivo empresário do show business, trabalhara muitíssimo bem a imagem do quarteto. Assim, quando - espantado - os ouvi naquela loja sem saber quem tocava aquilo, ao ver a capa do compacto simples disse comigo: "São eles!" Era o mesmo compacto que Ricardo Milo apresentaria à turma do São José algum tempo depois. O dele era promocional, da loja de eletrodomésticos de seus irmãos, Radioluz, ali na praça Dr. Carlos. Começava com uma propaganda do creme dental Kolynos (outro muito consumido era o Philips, meu preferido, que desapareceu do mercado). Saímos daquela aula de música já amigos, pensando em montar um conjunto como aquele, o que viria dar nos Brucutus. Mas antes de mais nada era preciso aprender a tocar. Roberto Carlos retornou a Moc em 1966, por ocasião da Exposição Agropecuária, férias de julho. Chegou na posição de príncipe, exigindo casa de campo ou uma outra na cidade, desde que recuada, e que tivesse piscina... Veio em avião fretado com todo o conjunto, o RC-7. Ficou na cidade, em casa recuada, com piscina, onde não caiu, a residência do casal Josephina e Hermes de Paula, querido e saudoso médico, historiador, folclorista e seresteiro-mor. Os Brucutus ainda não possuíam aparelhagem própria. Tocávamos nos instrumentos do Les Chèris, conjunto do Automóvel Clube que tocava outras músicas, caretas... Nossos agradecimentos a Vicente Alves, Zé Toco, Toni, Cassaçá, Eronildes e Lúcio, pelo muito que nos ensinaram e corrigiram. Embora tardio, fica aqui o registro. Creio que Roberto apresentou-se no campo do Cassimiro antes do show no AC. Assisti ao último, um negócio! Seu conjunto era excelente, alguns dos melhores músicos do país estavam ali. Quando o príncipe levou Quero que vá tudo pro inferno! o salão explodiu, literalmente. Essa canção foi o seu passaporte para a Majestade. Antes do fim do ano foi consagrado Rei. E até hoje mantém a coroa. Foi de Patão a ideia de o visitarmos. O objetivo da entrevista, nada louvável, seria solicitar ao Rei uma doação para a compra de instrumentos. Relutei, porém, pelo sim, pelo não, acabei indo. Combinamos com nossa amiga Virgínia de Paula, em cuja casa Sua Alteza se hospedava, e no dia seguinte lá chegamos para o café da manhã. Surge o Rei. Miudim... Simpático. Botinas pretas (ele não usa nem toca em nada que seja marrom, não passa debaixo de escada, só sai pela porta por onde entrou e por aí vai...), calça Wrangler e blusa banlon verde de manga comprida. Deu bom dia a todos, sentou-se, sentamo-nos, ele passou os olhos pela farta mesa e perguntou com aquela voz fanhosa: "Tem claybom?" Tinha. Desde então Sua Alteza se cuidava... Comeu uma fatia de mamão, tomou uma taça de suco de laranja, café com leite, passou claybom em uma bolacha de sal, cobriu-a com outra, montou seu sandubinha e deu o desjejum por encerrado. Aproximava-se a nossa hora... Da mesa do café passamos à sala de visitas. Deixei o pepino pro Pato. Quase caí de costas quando este pediu, nada mais, nada menos, do que uma guitarra de presente. Corei. Quase vomito o café. O Rei coçou a cabeça, disse que só possuía a sua guitarra Mosrite, chamou um assessor (talvez o seu rodie) e pediu-lhe que trouxesse um encordoamento da mesma marca. Alguém perguntou o que eu tocava na banda, Brucutus. Ganhei dois pares de baquetas americanas com pontas de nylon e uma caixa com duas vassourinhas Ludwig. As vassourinhas, dei-as de presente a Zé Toco, batera do Les Chèris, uma vez que eu não as utilizava em nosso repertório. Ligaram do aeroporto. O avião real sofrera uma pane. Ficamos ali conversando por cerca de uma hora, aí o Rei finalmente partiu. Tivemos um segundo e último encontro, em BH, mas essa é outra história... |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 17/8/2010 17:35:18 |
| FÉRIAS DE JULHO: SERESTAS! Durante uns bons anos, 3,4,5?, a turma andou a cometer serenatas. Algumas, ótimas, inesquecíveis; outras, poucas, nem tanto. Mas valeram, para todos que delas participaram. Quase sempre em julho. No verão, raríssimas, o pessoal se dispersava mundo afora. A coisa acontecia uma, duas vezes por semana. Isso, porque as demais noites eram vividas nas horas-dançantes em casas das garotas, festas particulares ou naquelas promovidas pelo Automóvel Clube, Max-Min, Pentáurea, Lagoa da Barra e no querido e vetusto Clube Montes Claros (onde fica hoje o Conservatório da dr. Veloso), que o cronista social Theodomiro Paulino revitalizava com o seu concorrido Encontro de Jovens, aos sábados, abrindo espaço para as mais de 30 bandas de rock da cidade. Agenda cheia, como se vê. E como se não bastasse, tinha eu o compromisso com minha banda, Brucutus (Ricardo Milo, Patão e Lelas, este substituído alguns meses depois por Beto Guedes), de nos apresentarmos às quartas e domingos no Juventude em Brasa do AC, evento por nós imaginado que lotava as dependências do clube. Parecia um réveillon. Tocávamos e cantávamos e a plateia se esbaldava das 21 às 02h da manhã. Nos dois intervalos de meia hora, sempre prolongados pelos goles, ou Paulinho Rodrigues entrava em cena com suas impagáveis caracterizações de Jerry Lewis, ou um dos nossos DJs encarregava-se de manter a alta temperatura da pista de dança. Ao chiar da assistência, exigindo o retorno da banda, reaparecíamos no palco. Éramos cumpridores de horário, por incrível que pareça, caso raro no meio musical daquele tempo. O clube nos pagava muitíssimo bem por aquelas performances. No entanto, metade da grana ou mais ficava no bar-restaurante, pois, aos amigos mais chegados, a boca-livre era total onde quer que apresentássemos. Certa feita, num Adeus às Férias, oferecemos um jantar para mais de cinquenta pessoas que só acabou com o sol já alto. Três bandas haviam levado a festa: Brucutus, Eremitas (Grego, Reinaldim, Herbert Caldeira e Lulu Guedes) e The Flintstones (Abílio e Sinclair Morais, Ronildo Almeida e Titão). No salão do AC, três palcos foram montados para essa grand finale. Mas falávamos de serenatas... Aconteciam por acaso, decididas ali, na hora, no banco da praça dr. João Alves -nosso QG, sem data marcada, porém, ensaiadíssimas, profissionais. Nada de improvisos. Pra começar, desafinados eram proibidos de cantar. Nesse quesito, Ricardo Milo cumpria admiravelmente o papel de ditador-regente. Acompanhavam o canto dois violões, às vezes bandolim e violas, flauta, gaita de boca, bongô e pandeiro sem couro, este último somente para marcar o rítmo de algumas canções - pandeiro desse tipo é um desastre na madrugada, soa longe. E incomoda os sensíveis ouvidos das gatas. Para despertá-las, abríamos a cantoria com Help (Beatles). A seguir, canções românticas, como não podia deixar de ser. Repertório escolhido a dedo: Yesterday, The long and widing road, This boy (com suas três vozes, lindas), Do you want to know a secret, The fool on the hill, Blackbird, A day in the life, Lucy in sky with diamonds, All you need is love, Till there was you... Todas dos Beatles. E mais: Lady Jane, Ruby tuesday (Stones), Listen people (Herman`s Hermits), The house of the rising sun (The Animals), A white shade of pale (Procol Harum), We`ll meet again, Mr. tambourine man, The bells of Rhymney (The Byrds), World of love (Peter and Gordon), Moon river, Georgia on my mind e outras canções que me escapam no momento. E ainda: I started the joke (Bee Gees), se estivesse presente Ricardo Mesquita (Jim Bordel) para interpretá-la. Apreciávamos bastante Tristesse (Chopin), mas nem sempre Beto se dispunha a dedilhá-la ao violão. Encerrávamos as serenatas com Hey Jude (Beatles), devido o prolongado coro final, da-da-da... dadadada..., que nos permitia sair de fininho das casas... Entre efetivos e eventuais membros, a turma contava com cerca de quarenta garotos. Computadas as garotas, o número subia a cem. Minha casa se assemelhava a um clube, ou melhor, hotel, onde não poucos entravam e saíam, almoçavam, jantavam, dormiam e se hospedavam, caso de Patão, que lá ficou seis meses, com direito à mesada. Os Guedes haviam se mudado para BH e necessitávamos do Pato aqui. Beto ficava com os Mesquita (Lúcia e Ney). Adorava o piano da casa, sempre afinado, pois dona Lúcia pertencia aos quadros do Conservatório Lorenzo Fernandez. Luiz Guedes, dos Eremitas, acolhiam-no Alice e Mozart Caldeira, pais de Herbert, componente da mesma banda. Lá em casa só não havia bebida. Também, pudera! Mamãe brincava, dizendo que passaria a exigir carteirinha para a entrada dos sócios... Papai, nem aí, chegava da Santa Casa pelas madrugadas e se metia no pôquer ou sete-e-meio dos meninos. No pôquer, blefava como ninguém, arrebatava todas as fichas disponíveis - nos quebrava, por assim dizer -, depois esparramava as fichas no pano verde, dizendo, às gargalhadas: "Vamos, patos, agarrem as que puderem!" Os anos eram dourados, sim. Na minha quase longa vida, só anos depois vi outra casa assim, a de Antonieta (Tutu) e João Batista Silvério. Inexistentes na minha (imprevidência de dona Lourdes), ali vigiam algumas normas afixadas nas paredes - Artigo 1º: Sujou, lavou! 2º: Dê descarga! 3º: Não entre molhado na casa! - e advertências na porta da geladeira: "A torta é para a sobremesa de amanhã!" No mais, a galerinha transitava à vontade, nadava, batia bola, e até mesmo assistia ao futebol, pela TV, deitada na camona do casal... Noutro tempo, que não o meu, a Vargem Grande, sítio-residência do casal Elisa-Joaquim Costa, era um verdadeiro cassino (roleta, mesas de pôquer, bacarat), com o velho líquido rolando solto, piscinadas... Reduto de casais da alta, bancadíssimos, aos garotos sobravam as raspas do tacho. Mas sabiam aproveitá-las, e como! O lindo, querido e saudoso casal mantinha uma charmosa casa de dois andares, mobiliada, no centro da cidade. Ali seus rapazes, Cacá, Mário Bode e Ernesto (Van), depois Luiz Milton e Roberto Luiz (Bob), faziam de tudo, os leitores podem imaginar. E exagerar. Na intimidade, referia-se a essa casa como Maison d`Oiseaux (Casa dos Pássaros): lá, eles, os rapazes, pousavam... e à Vargem Grande retornavam... Tão logo definido o repertório da serenata, partíamos para o ensaio no mirante dos Morrinhos ou no trevo do aeroporto. Entrementes, uma equipe especial, eficientíssima, comandada por Zé Geraldo Antunes (Jacaré da Serra), saía na sua vemaguete (perua DKW) para afanar côcos e galinhas. Havia um restaurante nas proximidades do bar do Toco, Vila Ipê, cuja proprietária-receptadora trocava duas galinhas vivas por uma assada... Bom negócio para ambas as partes. Quando acontecia de a equipe galinácea voltar de mãos vazias, surrupiávamos as penosas de nossas próprias casas. Algumas vezes surgia do nada um uísque, do bom, escocês, furtado dos pais. Nisso era mestre o Paulinho, Bolinha, filho dos maravilhosos Tião e Tininha. Tião, gerente de banco, ganhava caixas e mais caixas de presente. E nós, ali, de olho gordo na sua adega... Certa vez, Bolinha apareceu na praça com um garrafão de Cavalo Branco, cinco litros!, que foi guardado para uma futura oportunidade. De consciência pesada, nada cobramos de Tião para animar os 15 anos de Ângela, uma de suas filhas. Armada a seresta, vinha o roteiro a cumprir. Atendíamos também aos suplicantes, ajudando-lhes nas conquistas amorosas, cantando ali e acolá. Começando pela rua Bocaiuva, Clarete e Martinha Gomes. Na dr. Santos, as Maurício (Mânia, Nair e Vitória). Mais abaixo, cantar para as Zumba (Rita, Eliana e Janice) era complicado: moravam em apartamento de terceiro andar e, da rua, a música não lhes chegava aos quartos, nos fundos. Solução: saltar o muro da casa vizinha, na rua paralela, Camilo Prates, pertencente a Zezé e João Carlos Moreira; atravessar o térreo da casa (felizmente sem cachorro); subir ao telhado de um barracão nos fundos, sempre partindo telhas... De lá, daquele telhado, despertávamos as três princesas, que, pela beleza, mereciam muito maior esforço. Zezé e João Carlos nunca reclamaram de nada - ali também morava a boa música do Banzé. Outro roteiro começava pela Coração de Jesus (Marilene e Marinilza Mourão) e seguia pela avenida Cel. Prates. Ali, sim, o bicho pegava! As meninas de dona Fernanda Ramos, lindas, sequer piscavam as luzes dos quartos, a mãe não deixava... Mas ficavam acordadas, tudo ouviam e comentavam no dia seguinte. Fátima Pinto, quantas serenatas? Mabel Morais, quantas outras? Virgínia de Paula, outra complicação: a casa era-é por demais recuada. Solução: combinar de antemão com a homenageada para deixar o portão aberto. Fazer serenata ali era bom demais. Sentávamos em confortáveis poltronas na varanda, Virgínia às vezes nos acompanhava e cantava para ela mesma... E a boa pinga sempre nos era servida. Curioso é que o dr. Hermes, seresteiro-mor, nunca aparecia. Certamente a sua praia era outra, modinhas... Jacy e Marão Ribeiro mantinham os portões sempre abertos, eternamente. Pat e Mônica ouviram célebres serestas. Marão surgia, muitas vezes de cueca samba-canção (ali só havia homens), abria a porta de vidro, depositava duas garrafas do lado de fora, falava: "Êi, meninos!", fechava a porta e voltava, cambaleando de sono, casa adentro. E as meninas da Carlos Pereira e Pires e Albuquerque? Vera Medeiros, Túlia Drumond, Rosa Lafetá, as Couto, Márcia Pinto, as Madureira, Celeste Priquitim, Cláudia e Eliana Neto Ferreira... Nas vizinhanças da Matriz, Baixada, Lucinha Teixeira, Clarice e Ritinha Maciel... Nas imediações da Praça de Esportes, Verinha, Marly e Macyr Santos... Irene e Antonieta não podiam ser homenageadas. Fazê-lo, somente se escalássemos os altos galpões da Chevrolet, uma temeridade. Lá pelas 4, 5 da manhã, tudo acabado, acabado? , passávamos pela casa de Augustão, o Bala. Heloísa, sempre dormindo, ele acordado, lendo, ouvindo música ou tocando-compondo (Kd, Bala, aquela doce canção que você compôs pro Gustavo, seu primogênito?). Ficávamos ali até o sol raiar, ou, como dizíamos, até "matar o sol nos peitos", cantando, bebendo, tocando... Reinava então o improviso. Atacávamos de tudo, com Bala ao piano: bossa-nova, boleros, o que viesse à cabeça. Finalmente nos despedíamos, entoando, em uníssono, o refrão final de Across the universe (Beatles): Nothing`s gonna change my world Nothing`s gonna change my world... Que mudamos para melhor: Nothing`s gonna change my world Nothing`s gonna change my mind... (Nada mudará meu mundo Nada mudará minha cabeça...) |
| Por Haroldo Tourinho Filho - 16/6/2010 16:49:55 |
| MÁRCIO MILO (30.06.1939 - 12.06.2010) E OUTRAS REMINISCÊNCIAS... Eu o chamava de MM. Duplo M... Marilyn Monroe... Esta lhe escapou. Outras Marilyns foram por ele seduzidas neste imenso norte de Minas e alhures. Finalmente, encontrou o verdadeiro amor, casou-se e aquietou-se. Conheci MM na Radioluz, loja de eletrodomésticos que ele compartilhava com os irmãos Gera Renan e José Eustáquio, o Pindoba. Ali eu adquiria meus Lps de Elvis, Ray Charles e Sinatra. Depois vieram Beatles, Stones, Led, e meu gosto musical se ampliou. Certa ocasião, ali na loja, comprei dele um bilhete e ganhei a rifa de um relógio Mido com não sei quantos rubis... Sempre o via na Crystal, óculos de sol, com os eternos companheiros Mimi, Agnaldo, Edvar Róró e Waldir Aguiar. Inseparáveis. Quem se dispuser a consultar as colunas sociais dos anos 60 e início dos 70 verá o quinteto citado aqui e ali. Estavam em todas. Após a happy-hour na Crystal ou em algum outro bar do centro, iam para casa, se banhavam, se perfumavam (infelizmente o perfume então em moda era o repelente Lancaster, argentino...) e saíam para namorar. Logo mais voltavam a se encontrar na Crystal - espécie de quartel-general -, de onde partiam para algum dos cabarés, que à época não eram poucos. Eu, meninote ainda, os invejava. Vestiam-se bem, no Camiseiro (ah, as camisas Volta ao Mundo...) ou na Renner, possuíam lambretas e vespas e namoravam as garotas mais bonitas da cidade. "Meu tempo ainda há de chegar", pensava e me conformava. Chegou antes do que eu imaginava. Nos chamados anos dourados, meninos de 14/15 anos fumavam, bebiam, jogavam baralho, sinuca e porrinha e não poucos frequentavam o baixo meretrício. Foi por assiduidade a tais "antros de perdição", no dizer de padre Dudu, que um dos nossos ganhou o apelido que ainda hoje o acompanha: Jim Bordel. De certa feita nosso herói, o Jim (Conto ou não? Conto!), simplesmente mudou-se de mala e cuia para um dos quartos do palácio da célebre Roxa. Apaixonara-se por uma felina de seus 18 anos. Seu pai, o saudoso Ney, abordou a garota e lhe pediu, diplomaticamente, que deixasse o filho. Diante da negativa, ofereceu-lhe então um cheque em branco, dizendo: "Preencha-o com o valor desejado e abandone a cidade em 24 horas!" Como resposta, recebeu na cara o cheque rasgado em tiras. É mole? Voltando a Márcio, este era o que se chamava boa praça. Amigo de todos, leal, de fino trato e dono de um humor contagiante. Às vezes enervava-se, porém coisa passageira. Incentivou como poucos o esporte local, sobretudo o futebol de salão, fundou e dirigiu clubes sociais (quem não se lembra do volante Gardênia?). As horas-dançantes, sem ele e o quarteto que o acompanhava, perdiam a graça, segundo testemunhas de então. Como sói acontecer, Márcio tinha um sério rival, o não menos simpático e bonito Felisberto Oliveira, um gentleman. Viviam no empate/desempate no que se refere à pegação de garotas. Tratando-se de vedetes nacionais, a exemplo de Eliana Pitman e outras de igual calibre, ponto para Felisberto (ele as contratava no Rio de Janeiro, para shows do clube Montes Claros, este presidido por seu pai, o grande jornalista Jair Oliveira - dono da maior parte da mídia local: Gazeta do Norte e ZYD7, emissora de rádio). Félix - assim eu o chamava - chegou a ficar com a vetusta Virgínia Lane! Márcio Milo, por seu turno, não perdia o élan: desempatava a eterna partida através da conquista de alguma miss ou glamour-girl. Faturou mais de seis! Fiquei mais próximo de Márcio quando seu irmão Ricardo e eu, colegas de classe no marista São José, nos descobrimos como fãs dos Beatles e decidimos formar um conjunto musical. Como faltavam dois componentes, iniciamos como dupla, a exemplo da inglesa Peter and Gordon. Márcio nos incentivava e conseguia que tocássemos nos intervalos do conjunto de baile Les Chèris nas horas-dançantes matinais (das 10 às 14h), aos domingos, da boate da Praça de Esportes. Quem era quem, no dizer de Lazinho Pimenta, ali comparecia. O cuba-libre e o hi-fi rolavam soltos às 10 da manhã! Uma coisa, Arthur! Ficávamos apenas na coca ou no crush, Ricardo e eu. Coisa de um ano ou menos já tínhamos o conjunto montado, com o acréscimo de Lelas (João Batista Macedo) e Patão (Hélio Guedes). Beto viria depois, com a saída de Lelas. Nascia aí os Brucutus, que,juntamente a mais 35 bandas de rock (então chamadas conjuntos), viriam sacudir as estruturas da velha Moc. Havia até mesmo um conjunto feminino, o Wood Face Girls (Garotas Cara de Pau, porque rock and roll era coisa para meninos...), formado por Hilda Nascimento (bateria), Nair Maurício e Lucinha Teixeira (guitarras) e Celeste Priquitim (baixo). Márcio logo nos conseguiu um empresário, seu dileto amigo Waldir Baiano, merecedor de um livro a seu respeito. Era o que nos faltava, pois era o mais louco de todos nós. De uma tacada adquiriu todo o equipamento necessário ao conjunto: bateria, guitarras, baixo, amplificadores de som, caixas de voz, microfones... Patão e eu acompanhamos a compra da "aparelhagem" na Mesbla, em BH. Dez prestações, pagas religiosamente. Dona Lourdes (tia de Márcio) avalizara - temerosamente - a transação... Márcio continou incentivando a música. Logo vieram Rafa Milo (filho de Ricardo e Rita), Marcelo (filho do próprio Márcio), Leo Lopes (seu genro), Maurício Teixeira, Henrique Tourinho (Buts), Ian e Gabriel Guedes. E ele, Márcio, sempre torcendo por todos. Nos últimos anos, aposentado, dividia suas muitas histórias com a turma do café Galo, defronte à sua velha e amada Crystal. Ficam aqui, MM, o nosso agradecimento e a nossa eterna saudade. We`ll meet again* Valeu, MM! Vlw memo, flw, te+! *We`ll meet again (Encontrar-nos-emos novamente) é uma canção interpretada pela banda folk americana The Byrds (selo CBS, 1965). P.S.: Li esta crônica para Ricardo Milo antes de publicá-la. Ele comentou: "`É isso aí, Cabs." E acrescentou: "Quando Márcio saía de casa com aquele seu terno preto brilhante, camisa imaculadamente branca e gravata vinho com o nó irretocável, balançando a cabeleira loura, eu pensava: alguém vai sucumbir... |